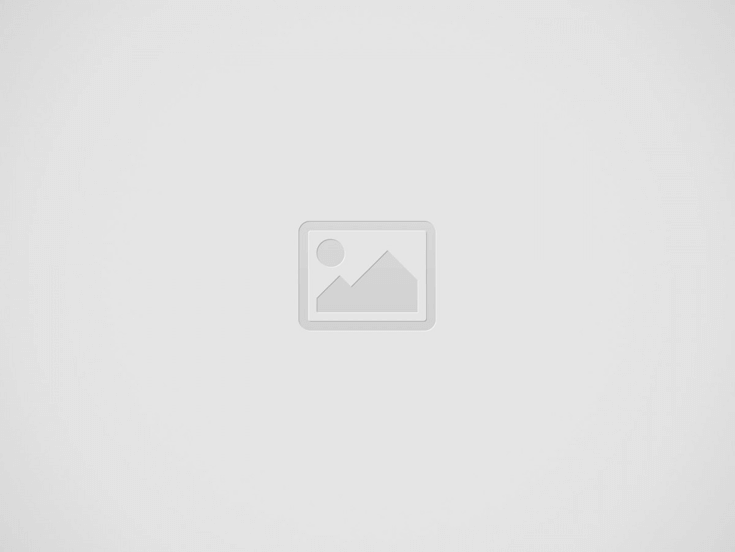

Além de ser uma resposta ao horror, a canção "Strange Fruit" poderia se transformar também numa espécie de acalanto
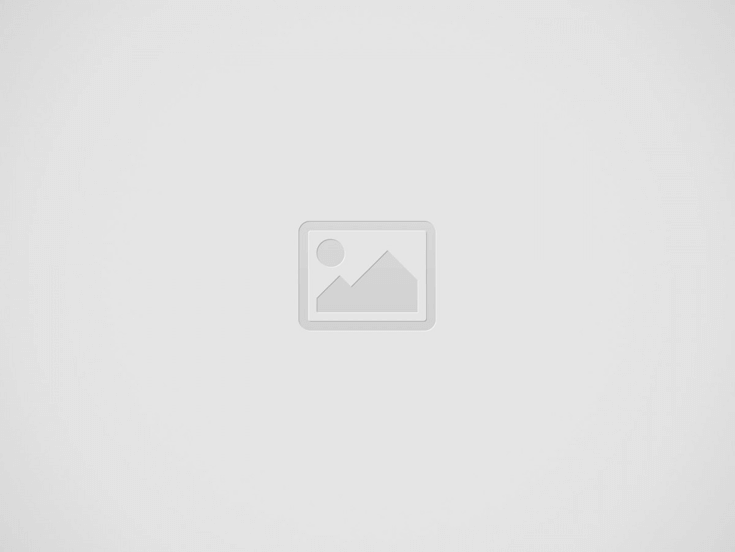

Principal intérprete de “Strange Fruit”, Billie Holiday teve uma trajetória que se confundiu com dramaticidade da própria música. Foto: reprodução
Se a arte não tem o poder de mudar o mundo, o que dizer de uma canção soturna e melancólica cuja letra – irônica até a raiz dos cabelos e sustentada por uma poesia cruel – fala de linchamento? “Strange Fruit”, a canção confundida com sua principal intérprete, Billie Holiday (1915-1959), construiu uma estranha reputação ao longo do tempo, desde que foi gravada pela cantora em 1939. Foi admirada e odiada na mesma proporção, em virtude dos efeitos devastadores que provocava pela voz de Billie.
Cantora excepcional, cheia de alma e experiência de vida, Billie não compôs a música, mas a incorporou de tal forma que ela ficou sendo sua. Assim, ela a utilizava nos shows em momentos de grande dramaticidade – para centrar as atenções de uma plateia distraída ou para calar a boca de alguém racista ou bêbado mais abusado. “Strange Fruit” acompanhou a carreira dela até o fim, e sempre foi cantada como uma espécie de resumo biográfico da vida miserável que Billie conheceu antes, durante e depois da fama.
O escritor americano David Margolick examinou a música com profundidade no livro “Strange Fruit – Billie Holiday e a Biografia de uma Canção” (Tradução: José Rubens Siqueira, ed. Cosac Naify, 144 págs., R$ 39,90), lançado originalmente em 2000 nos EUA. É uma obra pequena e densa. Ao contar a história de “Strange Fruit”, Margolick fala por tabela de pessoas e eventos extraordinários, ligados a uma época marcada pela chaga do preconceito racial elevado à potência máxima, sintetizada pelos inúmeros, comuns e levianos linchamentos de negros que ocorriam principalmente, mas não só, no sul dos EUA.
Margolick mostra como “Strange Fruit” tocava nessa ferida. “Muitas canções são pura distração ou entretenimento”, diz o autor ao Valor. “Elas levam nossa cabeça para longe dos problemas. ‘Strange Fruit’ foi e é única porque na verdade dirige nossa atenção para um dos problemas fundamentais da civilização: a intolerância.”
No ano em que foi lançada, o preconceito racial ainda era um tabu. Ninguém falava, quanto mais cantava a respeito. “Billie cantou esse tema de forma acessível e poderosa”, diz Margolick.
“Strange Fruit” é o tipo de música que faz estragos logo na primeira audição. Os depoimentos que Margolick colheu demonstram tanto o poder de encantamento quanto a repulsa que ela pode provocar. Mas ela não teria um efeito tão espetacular caso não saísse da garganta de Billie: todos os que tentaram depois dela tiveram que encarar a sombra da principal intérprete.
As histórias paralelas ajudam a fazer do conjunto a maravilha que ele é. De um lado, há o lugar em que Billie cantou a música pela primeira vez, o Café Society, estranha casa noturna de Manhattan que abrigava debaixo do mesmo teto, sem regalias e distinções, playboys, artistas de cinema, músicos, socialites e outros habitués de cores diversas. Os garçons se vestiam como maltrapilhos, e os racistas eram retirados do local sem o menor constrangimento. Nesse ninho de arte e tensa tolerância, Billie cantou “Strange Fruit” pela primeira vez. E o que aconteceu se repetiria em muitas outras ocasiões: depois de um silêncio sufocante, os aplausos exasperados. Nascia uma revolução de bolso, condenada às dimensões de um palco apertado, em que um jato de luz incidia diretamente sobre a cabeça da intérprete. E depois dela, o abismo, porque Billie deixava o tablado e não cantava mais nada.
E embora a canção pertencesse à intérprete por direito, quem a compôs de verdade tem uma história tão fascinante quanto o lugar em que ela foi cantada por Billie. O autor oficial é Lewis Allan (1903-1986), escritor judeu progressista que simplesmente se impressionou com a imagem de dois cadáveres negros pendurados numa árvore, assistidos por uma multidão de rostos brancos obtusos. Dessa foto nasceu a canção, irônica em todas as linhas (“Árvores do sul dão uma fruta estranha”, diz o primeiro verso).
Strange Fruit, interpretada por Billie Holiday
O nome verdadeiro de Lewis era Abel Meeropol, o homem que adotaria os filhos de Ethel e Julis Rosenberg, executados por espionagem em 1953. Um dos momentos mais bonitos do livro é a descrição das visitas de um dos filhos adotivos ao hospital em que Meeropol se encontrava, sofrendo do mal de Alzheimer. O filho cantava “Strange Fruit” para ele, substituindo o disco que, de tanto tocar, já estava riscado. Além de ser uma resposta ao horror, “Strange Fruit” poderia se transformar também numa espécie de acalanto.
Cadão Volpato, Valor
Acompanhe Pragmatismo Político no Twitter e no Facebook

