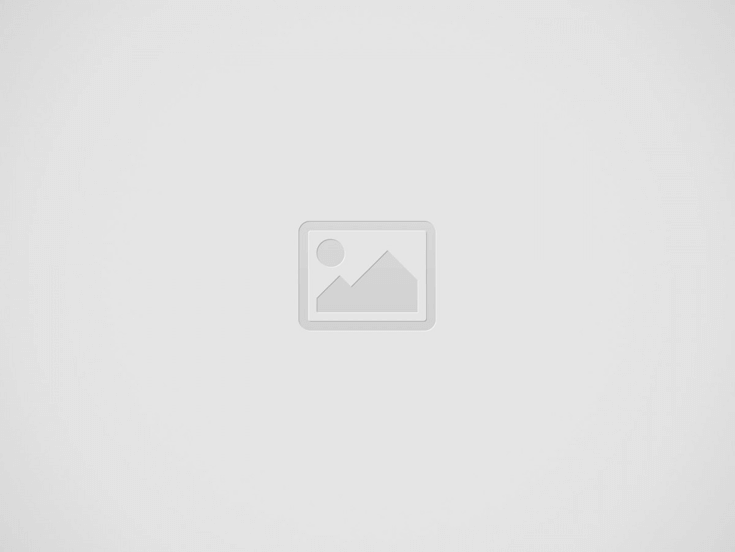

Se nossa elite não defende nem mesmo a propriedade privada como um “direito universal” inalienável nos moldes liberais clássicos, mas ao contrário, defende o privilégio “histórico” e “natural” como os legítimos e únicos dirigentes, criando um capitalismo aristocrático, como esperar dela algum projeto nacional de modernização que não reproduza apenas esse ideário arcaico?
Em sua recente coluna, Arnaldo Bloch falou de uma ganância desmedida que parece dirigir os empresários brasileiros, em particular os cariocas, como se o nosso capitalismo fosse excepcionalmente ganancioso. O sentimento geral por ele percebido é o de que o consumidor age como se estivesse usufruindo de um favor dado pelo empresário ao usar determinado estabelecimento ou serviço e o dono do negócio, um “vampiro gargalhando ao fechar o caixa no fim do dia”, lhe concedesse a honra de usar sua magnânima casa. Ao contrário da lógica capitalista tradicional segundo a qual “o consumidor é soberano”, o único soberano no capitalismo brasileiro parece ser o patrão.
Arnaldo enxergou um sintoma e o tomou como causa. Três ou quatro anos atrás, quando o ex-presidente Lula questionou alguns grandes empresários em palestra perguntando “se nós somos um país de economia capitalista por que é que a gente não adota uma política capitalista para este país?”, ele mirou mais certo do que Arnaldo, tocando em um ponto fundamental na constituição da mentalidade empresarial brasileira: a elite brasileira é tão retrógrada que rejeita fundamentais pilares constituintes do capitalismo moderno.
Num país de herança colonial e imperial, com um poder legítimo constituído principalmente por herdeiros dos nobres fugidos exatamente do “constitucionalismo imposto à força” por Napoleão na França revolucionária, a mentalidade formadora do capitalismo moderno brasileiro não apagou traços culturais da nobreza e do ”sangue-azul”. Na economia feudal pré-constitucionalista, a propriedade e por extensão o poder constituem um privilégio inquestionável (divino); assim, o nobre, em sua “infinita bondade”, concede aos plebeus e servos o privilégio de uso de suas legítimas posses (a terra). Não há a cultura do direito liberal da igualdade dos homens acima de tudo: a elite brasileira não gosta do “Império da Lei”.
Um dos princípios básicos da revolução liberal burguesa, exemplificada pela Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789, mas também pelas inúmeras revoluções europeias de 1848, era o de que a Lei era universal e aplicável a todos os cidadãos: todos são iguais perante a lei. Esse discurso era fundamental porque se chocava radicalmente contra a lei personalista e, portanto, variável e discricionária do Antigo Regime. Em regimes nobiliárquicos, as relações pessoais e de parentesco, “quem você conhece e qual sua relação com a autoridade local”, são peça fundamental no funcionamento do Estado e da sociedade. Se você é ”amigo do Rei”, você está feito.
Não é preciso ser clarividente para ver que no Brasil, até os dias de hoje, as relações pessoais e de parentesco são mais importantes que a própria lei. A “palavra” está acima da lei e, mais do que isso, a posição social do indivíduo na hierarquia social e suas relações com outras pessoas de igual estrato determinam não apenas o quanto a lei “se aplica a ele”, mas também o acesso aos diversos recursos e privilégios que o próprio Estado pode conceder, uma clássica relação pré-constitucional de poder. A frase eternizada pelo filme Tropa de Elite, “quem quer rir, tem que fazer rir”, é uma norma extremamente real. A troca de favores “entre iguais” é fundamental para o funcionamento da vida pública. Conhecemos outros termos ainda, como o QI – “quem indica”, o jabá da indústria musical, o nepotismo, os favorecimentos e o tratamento especial sempre dado na base da amizade – são traços facilmente identificáveis da cultura brasileira. A famosa frase do ditador peruano Oscar Benavides “aos meus amigos: tudo, aos inimigos: a lei” resume em linhas gerais a nossa principal regra.
Leia também
-
Igreja evangélica que proibiu penteado afro e maquiagem pede desculpas após repercussão negativa
-
Bolsonaro é recebido como popstar em feira do agro patrocinada pelo governo Lula
-
PM preso por crime no Oxxo matou 3 pessoas em 10 meses; média é considerada 'boa' por Derrite
-
PRFs que torturaram Genivaldo até a morte são condenados a 28 e 23 anos de prisão
-
General Braga Netto deu dinheiro a kids pretos que matariam Lula, diz Mauro Cid
Além disso, sendo o Brasil uma sociedade profundamente desigual, o reflexo cultural dessa desigualdade afeta nas classes subalternas também o costume de procurar fazer tudo na “base da amizade” e condescendência com o outro, na expectativa de que, quando necessário, o outro também o fará por amizade. Como que “juízes imediatos entre nossos iguais”, “livrar a cara de alguém” ou “aliviar desta vez” são, de certa forma, um modo ainda que torto de fazer justiça em face a um Estado que, por muito tempo, agiu apenas como agente repressor de pobres, cobrador de impostos e com a própria lei sendo seletivamente aplicada às classes dominantes.
Mais ainda, alguns costumes que hoje consideramos como instância última da corrupção não passam de hábitos do Antigo Regime, “atualizados” pela nossa sociedade. A propina era institucional, parte da remuneração oficial dos fiscais públicos durante o tempo colonial, especialmente no setor de alfândega: o monarca pagava um salário reconhecidamente baixo, mas autorizava o fiscal a cobrar do fiscalizado uma bonificação a se bel prazer. O fiscalizado por sua vez poderia recorrer ao rei caso considerasse abusiva a taxa. A cultura de cartórios e pequenas autoridades locais semi-independentes, responsáveis pelo funcionamento da máquina pública, é herança colonial que jamais conseguimos de fato superar; as milícias de hoje são os coronéis de ontem que, por sua vez, são os senhores feudais de anteontem. Mudaram-se as estruturas, mas o fantasma das idéias persistiu, e forte.
Por sua vez, o “Império da Lei” foi fundamental para o triunfo da cultura ocidental moderna e a destruição da cultura feudal. Sem “igualdade de todos perante a lei” a insegurança jurídica tornaria impossível instituir o capitalismo moderno e, enterrando as obscuras e incertas relações pessoais com o poder estabelecido, criaram-se sólidos parâmetros para expansão capitalista.
Embora o progressista moto liberal “todos são iguais perante a lei” tenha claras limitações, já que, na realidade uns já nascem ricos e outros pobres, em condições evidentemente desiguais – fato elegantemente resumido por Anatole de France em seu romance Le Lys Rouge, quando diz que “[a] lei, em sua majestosa igualdade, proíbe que tanto ricos quanto pobres durmam embaixo da ponte e roubem pedaços de pão” – é inegável que venha a enterrar o regime de privilégio hereditário no passado. Não há mais poder legitimado por Deus, nascimento ou “destino manifesto inato”. Quando até mesmo o popular Dalai Lama Tentsi Gyatsu, reencarnação de Buda (como qualquer Dalai Lama anterior), sugeriu que a próxima reencarnação de Buda (uma determinação “divina” de nascimento do “escolhido”) seja democraticamente eleita e legitimada pelo povo, notamos a magnitude da ideologia liberal da lei e da representação política legitimadora do poder.
Neste mesmo sentido, nossa cultura pré-constitucionalista rejeita também outro preceito pautado no Império da Lei burguês-liberal, uma das bases primordiais da justiça do mundo moderno: todos são inocentes até que se prove o contrário – conceito lindamente elaborado em 12 Homens e Uma Sentença (filme estadunidense de 1957). Embora seja uma noção periclitante em tempos de “Guerra ao Terror”, bem ou mal, ainda é um conceito dos mais fundamentais em qualquer democracia séria. Enquanto isso, aqui no Brasil, da mesma forma que no Antigo Regime a palavra de um nobre valia mais do que a de um servo ou plebeu, a palavra da grande mídia, arauto já tradicional da antiga elite, vale mais do que as palavras de um acusado, principalmente se for pobre, negro ou qualquer um que se levante contra o antigo poder constituído. Como no enredo de As Bruxas de Salém, só a acusação já é suficiente para condená-lo. Nisso, o Brasil descortina outra dimensão perversa do fenômeno: todos são inocentes contando que consigam pagar um bom advogado ou molhar a mão das pessoas certas, sejam juízes, fiscais, policiais e outros agentes “aplicadores da lei”, dando sentido à seguinte anedota jurídica: “um bom advogado conhece a lei, um excelente advogado conhece o juiz”.
Outro aspecto notável do arcaísmo da mentalidade elitista brasileira é a sua incrível rejeição histórica de idéias nacionalistas. O nacionalismo moderno é contemporâneo do triunfo do Império da Lei (vale leitura do Nações e Nacionalismo de Eric Hobsbawn, ou mesmo a leitura de Ernest Gellner, para um livro menos consagrado de mesmo nome). Nasceu após a queda do Antigo Regime. É até meio lógico: com a gradativa unificação da lei nacional, ocorreu a universalização da mesma (dentro das fronteiras já existente dos países) e dela veio a educação universal e a identificação de todos os cidadãos falante de uma mesma língua tanto com um poder central, quanto com uma identidade nacional. A pessoa se reconhece à medida que identifica a quais idioma e cultura não pertence.
Porém, o nacionalismo moderno só triunfa enquanto idéia quando caminha com o nacionalismo industrial, e dele se retro-alimenta. Não é por acaso que os grandes “industrializadores” foram em grande parte também nacionalistas (Bismarck, Getúlio e Meiji, para citar apenas três bastante diferentes). O Estado, agora amplamente aberto aos industriais, comerciantes e profissionais liberais, precisa fortalecer o seu próprio poder nacional e para isso toma uma série de medidas: face os perigos de nações rivais e invasores, decide unificar um exército profissional acabando com as forças locais independentes; para alimentar a expansão industrial decide criar escolas públicas e técnicas, universidades nacionais; para evitar competição decide barrar a entrada de trabalhadores estrangeiros; para proteger sua moeda procura instaurar pedágios unificados de fronteira; enfim, toma uma série de medidas de âmbito nacional com a finalidade de fortalecer tanto o Estado quando as elites que o controlam, modernizando ambos. Enquanto isso, no Brasil, observamos um poder descomunal das polícias militares estaduais, evidencia de como herdamos e ainda mantemos a cultura das “pequenas tropas locais”, nos moldes coloniais – e o próprio símbolo da PM-RJ não nos deixa enganar: um pé de café, um de cana-de-açúcar e dois revólveres e as iniciais de “Guarda Real da Polícia”.
O nacionalismo econômico torna-se, dessa maneira, o caminho natural das elites minimamente interessadas no desenvolvimento do capitalismo nacional. Como elaborou Ha Joon Chang em sua série de livros (especialmente 23 coisas que não nos contaram sobre o Capitalismo e Bad Samaritans), o desenvolvimento capitalista precisa do protecionismo, especialmente em países em desvantagem econômica em algum setor. Segundo o Ha Joon Chang, historicamente a principal forma de o capitalismo nacional se desenvolver foi com protecionismo contra forças superiores estrangeiras, conjuntamente a investimentos maciços em “indústrias nascentes” e educação nacional. Como exemplos, temos o largo protecionismo norte-americano pós-Secessão e a Alemanha de Bismarck.
A negação deste princípio básico do desenvolvimento da economia nacional só fortalece quem sempre teve poder e o herdou da época pré-republicana, do período colonial: ruralistas exportadores e uma pequena parte que se converteu em nobre-industrial (que foram raríssimos na história brasileira),
sejam agora representados pelo agronegócio da soja, pelos negócios da pecuária de exportação, do frango de exportação (complexo Sadia-Perdigão) ou do minério de ferro da Vale. Como ainda se pode ler em um ou outro apologético anacrônico neoliberal, devemos seguir “nossas vocações naturais” explorar nossas “vantagens comparativas” (para usar um termo mais moderno) e continuar eternamente exportando laranja ou soja, pois “é o que sabemos fazer”; devemos, portanto, aceitar nossa condição subalterna no mercado industrial internacional, vendo nossas desprotegidas indústrias nacionais serem esmagadas, preteridas pelas políticas públicas. Isso não é indústria, no sentido capitalista do termo, é uma espécie de extrativismo exportador, que emprega pouco, não fortalece o mercado interno e torna o país escravo do exterior e do preço internacional das commodities, como sempre foi desde o tempo colonial.
Mais ainda, a lógica primário-exportadora de commodities e importadora de bens manufaturados associou como unha e carne a elite nacional com o capitalismo internacional, criando uma relação de dependência altamente conservadora, admitida inclusive por Fernando Henrique Cardoso, Milton Santos e outros importantes teóricos da Teoria da Dependência. Esse fato fomentou uma cultura antinacionalista, vulgarmente chamada de “complexo de vira-lata”. Ao invés de desenvolver e fortalecer a indústria local, preferiram execrar um Mauá e comprar importados de nações desenvolvidas; ao invés de construir poderosas e abrangentes universidades no país, preferiram mandar seus filhos estudar no exterior. Não é notável que, apesar de outras tentativas frustradas anteriores, nossa primeira universidade seja apenas de 1912!? Em termos profissionalizantes o quadro é ainda pior: apenas com Lula e seu arremedo de projeto nacional se criaram mais escolas técnicas profissionalizantes do que nos 100 anos anteriores! Aqui historicamente a preferência foi por criar faculdades para formar elites dirigentes e reprodutoras da própria sociedade do que investir em uma educação universal consolidadora de um ethos nacional, desenvolvimentista e unificado, necessário para o desenvolvimento capitalista. A rejeição ao protecionismo e à educação universal engrossam o caldo da rejeição a um capitalismo nacional.
Com tudo isso em mente, é natural, portanto, que as elites “olhem para fora” e não sejam nacionalistas e tentem, sistematicamente, lutar contra políticas nacionalistas e de orgulho nacional. Em todos os momentos em que a democracia nacional deixou de seguir os interesses oligárquicos e internacionalizantes, as elites nos mais variados estados se mostraram golpistas. A todas as tentativas de fortalecimento do poder centralizador do Estado Republicano brasileiro as elites oligárquicas locais se opuseram, em maior ou menor grau. O medo de perder o poder local para um agente forte centralizador e universalizador da Lei tornou as oligarquias menores relutantes em aceitar esse poder. O Antigo Regime feudal é mister em oligarquias e poderes locais coronelescos, que muitas vezes ignoram o poder central. A “república” foi fundada nesse espírito, até Floriano Peixoto é diminuído por vastos setores da elite “liberal” brasileira e não é raro ser chamado de vil ditador (numa época em que praticamente só existiam ditaduras no mundo); Getúlio Vargas também, apedrejado e execrado, tentou ser enterrado por FHC, que chegou a proclamar “O fim da Era Vargas”; João Goulart, um estancieiro nacionalista com o mínimo de projeto nacional unificado, foi derrubado. Não foi Juracy Magalhães, ministro dos militares que o derrubaram, a proclamar que “o que é bom para os EUA é bom para o Brasil”? Resume bem o naipe do nacionalismo dos seus comparsas golpistas.
A mentalidade elitista brasileira não é, portanto, nacionalista, ela é provinciana. Não é claro que até mesmo nossa extrema direita seja altamente antinacionalista? “São Paulo para os paulistas”; “abaixo os nordestinos”; a carta racista de Brusque aparece como expoente do provincianismo antinacionalista catarinense; no Rio, capital do antigo Império, a elite aparece rejeitando o transporte público dos “pobres” e defendendo a guetização das cidades, prefere sofrer horas no pior trânsito do país a dividir espaços com a “patuléia”. Assim, outra particularidade brasileira é a extrema-direita aparecer sem qualquer projeto nacional, da “clássica” extrema-direita pegou apenas o racismo, o elitismo e o autoproclamado “direito inato de governar os subalternos”.
Assim é compreensível a prática comum entre os membros da elite brasileira de atribuir tudo de qualidade ao que é estrangeiro e tudo de ruim ao que é nacional. A rejeição é quase cega e se estende aos mais diversos setores, da música e tv, à política e economia. Adoram a beleza e organização de Berlim ou Paris, mas não querem o poderoso estado organizador, a educação universal pública, a seriedade jurídica e o fim dos privilégios de classe que foram fundamentais para formar aqueles países. Do estrangeiro querem os bens de consumo e a esperança de um civilizador branco euro-americano, um messias trazendo um pouco de “cultura” para esse “bananal”. Ainda é comum o espanto de brasileiros ao notar que os estrangeiros vêm aprender tecnologia de prospecção e extração de petróleo com a Petrobrás ou que o sucesso do nosso modelo de estatal-mista com capital privado tenha sido largamente copiado pelo mundo.
Sem uma efetiva revolução burguesa-liberal no processo de republicanização, a cultura aristocrática da nobreza colonial adentrou o capitalismo e a modernização – parcial – da máquina pública, afetando por demais as novas classes médias urbanas surgidas no novo período “republicano” e elencadas a dirigir o estado e as empresas no “capitalismo aristocrático” brasileiro. Ao invés de combater a sociedade de privilégio dos nobres, orientada para a tradição e para o passado, sistematicamente os novos dirigentes oriundos ou não das antigas elites imitaram os princípios e costumes tradicionais, reproduzindo a lógica colonial no “estado republicano”. Norbert Elias, qualificadíssimo historiador e sociólogo alemão, elabora melhor a questão:
quando […] homens oriundos da classe média ascenderam ao poder e cada vez mais repartiram com as tradicionais classes aristocráticas dominantes, ou pura e simplesmente tomaram delas, as rédeas do governo em suas sociedades, e quando os principais setores da classe média se estabeleceram progressivamente como os grupos mais poderosos de suas respectivas sociedades, as crenças e os ideais orientados para o futuro – a esperança de um futuro melhor – perderam para eles seu anterior significado.
No seu lugar, uma imagem idealizada de sua nação passou a ocupar o centro de sua auto-imagem, de suas crenças sociais e de sua escala de valores. Durante o período de sua ascensão, as classes médias […] tinham sido orientadas para o futuro. Uma vez elevadas à posição de classes dominantes, suas seções de liderança e suas elites intelectuais, à semelhança de outros grupos dirigentes, trocaram o futuro pelo passado a fim de basear neste sua imagem ideal delas próprias. […] O cerne da ‘nós-imagem’ e do ‘nós-ideal’ delas foi formado por uma imagem de sua tradição e herança nacionais. […] Uma imagem ideal de si mesmas como nação transferiu-se para o lugar supremo em sua escala de valores públicos; ganhou precedência sobre os mais antigos ideais humanistas e moralistas, triunfando sobre eles em caso de conflito, e, impregnada de fortes sentimentos positivos, converteu-se na peça central de seu sistema de crenças sociais. (Elias, 1997, p. 128-130).
Enfim, não é evidente a “Síndrome da Era de Ouro” de nossas elites? Ora reiventando a Ditadura Militar de 1964, quando a “boa sociedade estava a salvo da corrupção, promiscuidade e irresponsabilidade da democracia”, ora em delirantes apologias à monarquia, mas sempre em defesa dos seus tradicionais privilégios, agora “oprimidos” pela “nova ordem”. Assim, portanto, não soa estranho que nossas elites tenham incoerentes comportamentos para uma sociedade capitalista que se diz moderna, do seu claro desdém pelas instituições constitucionais, embarcando em aventuras golpistas sempre que ameaçada, passando por uma repulsa ao trabalho árduo que, dada nossa herança escravocrata, é tarefa de subalterno, chegando até ao fato apontado por Arnaldo Bloch, a ganância exacerbada dos proprietários que, em sua generosidade, fazem o favor de permitir que “plebeus e servos” usem suas posses.
Ao rejeitar o nacionalismo enquanto projeto nacional catalisador de uma política desenvolvimentista, ao rejeitar um protecionismo industrializante em seu papel de instrumento fundamental para a promoção de uma economia de emancipação capitalista, e, principalmente, ao rejeitar a educação universal como caminho necessário para qualquer projeto sério, nossa elite seguramente se recusa a pagar o ”ônus” de uma sociedade capitalista moderna. Se nem mesmo proprietários de imóveis, como os da Vila Autódromo, Providência ou Horto, têm direito inalienável diante dos projetos megalomaníacos da prefeitura do Rio de Janeiro, o que dirá de outros direitos constitucionais “menores” para a lógica liberal? Se nossa elite não defende nem mesmo a propriedade privada como um “direito universal” inalienável nos moldes liberais clássicos, mas ao contrário, defende o privilégio “histórico” e “natural” como os legítimos e únicos dirigentes, criando um capitalismo aristocrático, como esperar dela algum projeto nacional de modernização que não reproduza apenas esse ideário arcaico?
*Leandro Dias é formado em História pela UFF e editor do blog Rio Revolta. Escreve quinzenalmente para Pragmatismo Politico. (riorevolta@gmail.com)
com colaboração e revisão de Carolina Dias
Bibliografia para referências:
HOLLANDA, Sérgio Buarque de: Raízes do Brasil, Cia das Letras, 2012
CHANG, Ha Joon: 23 Coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, Cultrix, 2013
CHANG, Ha Joon: Chutando a Escada, Unesp, 2004
CHANG, Ha Joon: Bad Samaritans, Bloomsberg, 2008
ELIAS, Norbert: Os Alemães; Zahar, 1997
FERNANDES, Florestan: A Revolução Burguesa no Brasil, Globo, 2006
GELLNER, Ernest: Nations and Nationalism, Cornell Uni. Press, 2009
HOBSBAWN, Eric: Nações e nacionalismo desde 1780, Paz e Terra, 1990
HOBSBAWN, Eric: A Era das Revoluções, Paz e Terra, 2009
PRADO JUNIOR, Caio: Formação do Brasil Contemporâneo, Cia das Letras, 2011

