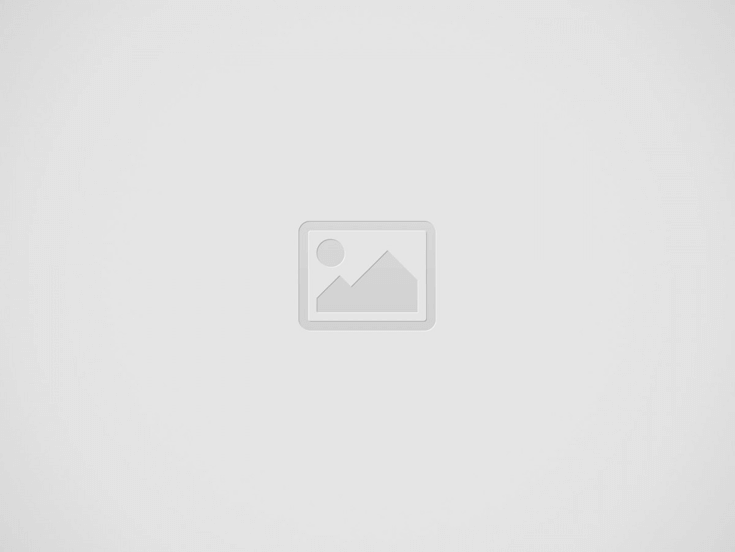

Nem a morte os separa. Os EUA renovam uma aliança de 70 anos com o fundamentalismo mais reacionário do Oriente Médio
Não se poderia culpar o proverbial marciano se ele apontasse a Arábia Saudita como a superpotência dominante do nosso planeta. Barack Obama não julgou a manifestação contra o atentado ao Charlie Hebdo, da qual participaram todos os principais líderes europeus, importante o suficiente para enviar sequer um funcionário de segundo escalão. François Hollande teve de satisfazer-se com a solidariedade da embaixadora. Mas, ante a morte do rei Abdullah e a entronização de seu irmão Salman, encurtou uma supostamente histórica viagem à Índia para prestar homenagem ao novo soberano saudita, acompanhado por uma comitiva na qual se incluíam o secretário de Estado, o diretor da CIA, o chefe do Comando Central do Pentágono e algumas das principais lideranças democratas e republicanas do Congresso.
Ao mesmo tempo, a Casa Branca e os principais órgãos da mídia dos Estados Unidos não poupam esforços para apresentar o finado autocrata como um líder visionário, um grande reformista, um modernizador moderado e esclarecido e um pacifista. Piada de péssimo gosto. Em quase dez anos de reinado, quase nada mudou em suas instituições absolutistas e fundamentalistas. Organizações civis são proibidas, salvo para fins de caridade. Eleições (salvo municipais), partidos, Parlamento e oposição continuam a ser tabus. Não há código de leis, pessoas são rotineiramente decapitadas, mutiladas e torturadas conforme os caprichos de juízes religiosos e um blogueiro acaba de ser condenado a mil chibatadas e dez anos de prisão por pedir liberdade de expressão. Mulheres não podem dirigir nem sair de casa ou fazer compras sem autorização de seu guardião (pai, irmão ou marido). O nepotismo não é abuso, é norma: os cargos são preferencialmente reservados aos 7 mil príncipes da família real.
Sobre o suposto pacifismo, bastaria lembrar a pressão saudita por um ataque estadunidense ao Irã, a repressão violenta aos protestos da minoria xiita, a intervenção em Bahrein e o apoio ao brutal golpe militar do Egito. Mas há muito mais: não só a ideologia da Al-Qaeda e do Estado Islâmico é o mesmo wahabismo ou neossalafismo que é a doutrina oficial do Estado saudita desde suas origens no século XVIII, como ambas as organizações terroristas foram apoiadas, financiadas e armadas pela Arábia Saudita para combaterem os regimes xiitas de Damasco e Bagdá, simpáticos ao Irã. Muito do dinheiro veio de doadores privados, mas a monarquia certamente conhece seus nomes e não quer ou não ousa intervir. Era assim antes dos atentados de 11 de setembro (cujos organizadores e executores, assim como Osama bin Laden, eram na maioria sauditas) e continuou a acontecer depois.
Segundo Laure Mandeville, do jornal francês Le Figaro, a inteligência dos EUA está cada vez mais preocupada com o papel da Arábia Saudita na propagação do jihadismo salafista e com a crescente adesão de seus militares às suas vertentes mais extremas. Em 2014, a monarquia saudita pôs o Estado Islâmico na lista de organizações terroristas, começou a participar das operações de bombardeio do Estado Islâmico lideradas pelo Pentágono e a construir uma cerca de 700 quilômetros em sua fronteira norte, para evitar a infiltração de militantes. Entretanto, isso não a protege do recrutamento de simpatizantes do califa em suas próprias fileiras: em 5 de janeiro, o general Oudah al-Belawi, enviado à fronteira norte para avaliar a lealdade de unidades duvidosas, foi assassinado por um ataque suicida do Estado Islâmico, certamente informado de sua presença por informantes dentro do próprio Exército.
A família real também convocou seus clérigos a deslegitimar o Estado Islâmico, mas essa é uma tarefa ingrata, pois não há diferença entre suas próprias doutrinas e as do autoproclamado califa Ibrahim Al-Baghdadi. Apenas este é mais intransigente ao aplicá-las sem “mas” ou “poréns”, sem fazer concessões às elites nem acordos com o Ocidente.
A Arábia Saudita é igualmente um foco de doutrinas fundamentalistas e terrorismo. Acontece ser também dona das maiores e mais lucrativas reservas de petróleo do mundo e do quarto maior orçamento militar, atrás apenas de EUA, China e Rússia e à frente de potências tradicionais como França e Reino Unido. É o maior importador de armas ocidentais e, além disso, segundo fontes da inteligência ouvidas pela BBC, tem um acordo secreto com o Paquistão para obter armas nucleares em troca de petróleo e financiamento.
A aliança com os EUA de fevereiro de 1945, quando Franklin Delano Roosevelt recebeu o rei Abdulaziz ibn Saud (pai de todos os sucessores: Saud em 1953, Faisal em 1964, Khalid em 1975, Fahd em 1982, Abdullah em 2005 e Salman em 2015) a bordo de um cruzador no Canal de Suez e ofereceu-lhe proteção e assistência militar em troca de garantia de acesso às suas reservas de petróleo, uma base militar em Dhahran e a não oposição do reino à imigração judaica na Palestina e eventual fundação de Israel. Desde então, apesar das tensões causadas pelas guerras árabes-israelenses e dos choques do petróleo, os termos do acordo foram mantidos. A família Saud precisou cada vez mais desse pacto para resistir aos desafios internos e externos e os EUA para controlar o fornecimento de petróleo ao Ocidente e combater o avanço do socialismo e do nacionalismo no Oriente Médio.
Mesmo quando isso implicou colaborar com o Ocidente contra outros muçulmanos, os sauditas foram um aliado confiável contra os soviéticos, o nasserismo, o Irã, os movimentos democráticos árabes e a Irmandade Muçulmana, uma vertente rival e menos reacionária do fundamentalismo que na Primavera Árabe, com apoio do Catar e sua Al-Jazeera, ameaçou mudar o mapa político do Oriente Médio e aliar o Egito ao Irã e ao Hamas. Neste momento seus interesses voltam a convergir no Iêmen, onde um governo amigável para com os EUA e os sauditas acaba de ser derrubado por rebeldes xiitas simpáticos ao Irã. Mas essa Realpolitik, inconsistente com o wahabismo, sempre foi vista com desconfiança por parte dos súditos.
Desde 1945, clérigos ultraconservadores protestam contra a presença dos infiéis na base de Dhahran. A aliança explícita com Washington e a presença massiva de tropas do Pentágono em terras sauditas na Guerra do Golfo de 1990 levou essa insatisfação a outro patamar. Foi nessa ocasião que Bin Laden rompeu com a monarquia, elegeu os EUA como seu principal inimigo e recebeu apoio moral e financeiro de parte da elite saudita. Essa presença militar foi um dos motivos alegados pela Al-Qaeda para os atentados de 11 de setembro, que na época, segundo o serviço de inteligência saudita, tiveram o apoio de 95% dos sauditas de 25 a 41 anos.
A reação à Primavera Árabe gerou uma aliança informal com Israel, que foi certamente mal recebida pelos mesmos setores. Em 2011, a Alemanha consultou Israel sobre a venda de 200 tanques aos sauditas e Benjamin Netanyahu a aprovou sem restrições: esmagar as revoltas árabes é prioritário. Desde então, o Mossad e a inteligência saudita mantêm reuniões regulares e, apesar das críticas oficiais à política de Israel na Palestina, nos bastidores os sauditas felicitam Israel pelos bombardeios em Gaza contra o Hamas.
Em combinação com a imagem de desperdício, corrupção e nepotismo da família real e as restrições financeiras decorrentes da própria política saudita de derrubar os preços do petróleo para tomar mercado de concorrentes, a acusação de traição à causa muçulmana é explosiva, pois pode legitimar um levante. Pela segurança aparente proporcionada pela aliança com os EUA, a monarquia se dispensou de modernizar suas instituições arcaicas e Washington, satisfeita com sua fidelidade, jamais a pressionou com seriedade nessa direção. Como a população é mantida em passividade forçada e faltam meios de medir, expressar e negociar a insatisfação, esta pode explodir de forma radical quando menos se espere, talvez nos próprios meios militares. Assim como no Paquistão, onde os militares apoiam discretamente o Taleban afegão e Bin Laden abrigou-se por anos às portas da Academia Militar, parte das Forças Armadas pode estar comprometida com a Al-Qaeda ou o Estado Islâmico.
Enquanto isso, o rei Salman, sofre, aos 79 anos, das sequelas de um AVC e do mal de Alzheimer, e seu irmão e herdeiro, Muqrin, de 69 anos, é visto como um continuador de Abdullah. O sobrinho Mohammed bin Nayef, 55 anos, o seguinte na linha de sucessão, será o primeiro da geração de netos de Ibn Saud a subir ao trono. É tido como menos corrupto e mais competente que os irmãos, mas agressivo e implacável, responsável pela execução ou prisão de centenas de opositores não violentos. Educado nos EUA, sobreviveu a um atentado da Al-Qaeda em 2009 e sua nomeação como ministro do Interior, em 2012, foi lamentada por defensores de direitos humanos. Ele é responsável pela política saudita na Síria e no Iraque desde fevereiro de 2014 e logo depois reuniu-se no Marrocos com seus pares de outros países árabes para organizar um esforço conjunto para erradicar a Irmandade Muçulmana. Quer deter as mudanças do mundo à sua volta, não se adaptar a elas. Em outras palavras, a sucessão traz mais do mesmo e nenhum vislumbre de como desarmar a bomba-relógio na qual esse país se tornou.
Antonio Luiz M. C. Costa, Carta Capital
Acompanhe Pragmatismo Político no Twitter e no Facebook.

