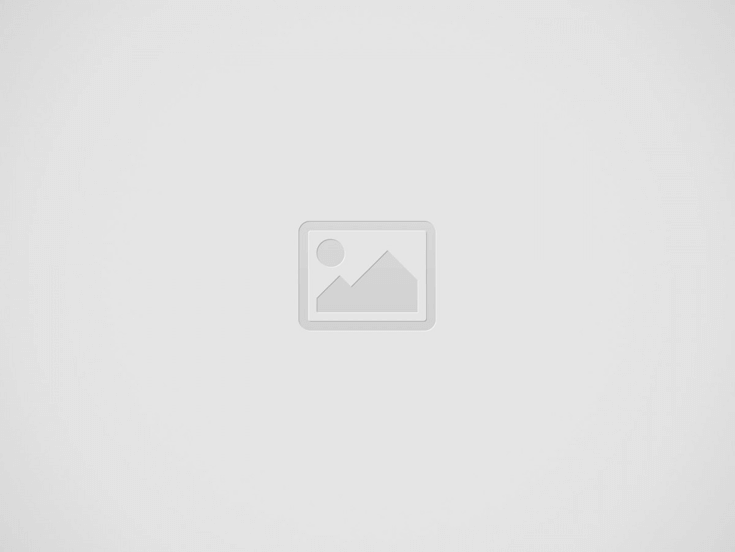

Foto: Juca Martins
Onde estavam as travestis durante a Ditadura? Além da caça à homossexuais e travestis nas ruas, para “limpeza”, empreendeu-se forte mecanismo de censura contra jornais, revistas, ou quaisquer outros meios que dessem alguma visibilidade a essas pessoas
Fernanda Dantas Vieira, Fórum
A história é uma narrativa, disso não há dúvidas. Quando abrimos um livro de história, ou ouvimos uma aula, ou estudamos para o vestibular, sabemos que aquilo que nos é contado é uma narrativa, uma forma de interpretar os fatos, a partir de certa perspectiva relacionada a um sujeito específico. Uma forma de olhar, ou como nos diria Donna Haraway, em seu artigo, “Saberes Localizados“, uma tecnologia do olhar.
Um saber localizado, a partir dos “corpos que importam” naquele contexto. Com a história da Ditadura ocorreu o mesmo. Nós aprendemos a lê-la e conhecê-la a partir de narrativas de heróis: Carlos Marighela, Vladimir Herzog, Frei Tito, e tantos outros nomes, que nos surgem em narrativas (merecidamente) heróicas de luta pela democracia.
Aos poucos, a história começa a nos contar nomes de mulheres, um trabalho árduo de pesquisadoras e feministas que olham novamente para aquele período e se perguntam: Onde estavam as mulheres? Assim surgiram nomes de mulheres vitais na luta contra o Regime Militar de 64: Amélia Teles, Ana Maria Aratangy, Crimeia de Almeida, Nildes Alencar, Maria Aparecida Contin, entre outras. Mulheres que foram invisibilizadas pelos relatos hegemônicos (masculinos) do período, mas que têm surgido como nomes importantes na luta pela redemocratização do país.
O saber histórico, ou seja, das narrativas, está em constante disputa. Precisa ser visto e revisto o tempo todo. No caso específico das pessoas transexuais, travestis, gays e lésbicas, é preciso um esforço na releitura do período da Ditadura civil-militar para encontrarmos nossa participação.
Tanto as violações que sofremos, quanto nossa participação nas lutas, como foi o caso de Herber Daniel, do Colinas (Comando de Libertação Nacional), organização à qual também pertenceu Dilma Roussef, nossa atual Presidenta.
Herber Daniel (Herbert Eustáquio de Carvalho), como nos relata o historiador James Green, brasilianista da Brown University, que por ser um homem gay, teve de esconder sua sexualidade para poder pertencer ao coletivo de luta anti-golpe, uma vez que a figura do homossexual, era tão apagada, desprezada e temida, que nem mesmo nos meios de esquerda eles eram aceitos.
O homem gay afeminado não “combinava” (cof) com a Revolução, havia, obviamente, um ideal de corpo revolucionário – este era geralmente viril, forte, másculo, heterossexual, cisgênero -, e não um corpo “degenerado”, “perverso”, “doentio” e “afeminado”.
Assim como Hebert, suponho que muitos outros homossexuais não podiam viver sua sexualidade livremente dentro de coletivos anti-golpe. Mas não foi apenas na “esquerda” que enfrentamos a intolerância e o preconceito. O governo autoritário da Ditadura Militar, tinha também, obviamente, um ideal de “povo” e de corpo são. Para isso, pôs em curso, um processo de higienização e caça à homossexuais, travestis, transexuais, e todo e qualquer desviante sexo-gênero, e “degenerados”. Amparados por uma ideologia cristã de família e moral, os governos municipais e estaduais realizaram verdadeira caça à homossexuais e travestis no Brasil, como nos conta o relatório da Comissão Nacional da Verdade – CNV , em capítulo destinado à violência contra a população LGBT.
O processo de limpeza e higienização era feito através de “rondões”, nas palavras do relatório da CNV, escrito por Renan Quinalha:
Em 1º de abril de 1980, O Estado de São Paulo publicou matéria intitulada “Polícia já tem plano conjunto contra travestis”, no qual registra a proposta das polícias civil e militar de “tirar os travestis das ruas de bairros estritamente residenciais; reforçar a Delegacia de Vadiagem do DEIC para aplicar o artigo 59 da Lei de Contravenções Penais; destinar um prédio para recolher somente homossexuais; e abrir uma parte da cidade para fixá-los são alguns pontos do plano elaborado para combater de imediato os travestis, em São Paulo”. (Relatório CNV, pg. 297)
Ainda segundo o mesmo relatório, foi estabelecido formas de “medir” o corpo das travestis, recolher suas imagens para “averiguação” a fim de determinar o quanto perigosas elas poderiam ser. O risco que ofereciam, nas palavras da Polícia, era de perverter e incentivar a juventude, além de propagar tais “abomináveis” práticas. Foi estabelecida uma associação direta entre os desvios sexo-gênero e a ideologia comunista. De modo que, a prisão de homossexuais e travestis, deveria ser feita de forma prioritária, como uma das formas de combate à perversão perpetrada por “comunistas”.
É importante perceber a ênfase sobre a “imagem” da travesti. No período da Ditadura, conhecemos nomes de travestis que se saíram muito bem, como é o caso da travesti Rogéria. Mas que imagem ela possuía? Porque não era uma imagem perseguida? Esta não é uma reflexão que caiba neste texto, talvez em um próximo. Mas pensarmos acerca disso é importante.
No RJ, a travesti, negra e chacrete, Weluma Brum, nos relata suas experiências com a polícia. Naquele momento, Weluma nos narra, que certa vez, ao ser parada pela polícia enquanto se prostituía na Central do Brasil-RJ, fora obrigada a fazer sexo oral nos policiais para não ser presa. Isso depois de apanhar de 4 policiais, que lhe batiam e davam choques. Depois, Weluma conheceu a estratégia mais comuns entre as travestis para evitar a prisão, segundo ela “Nós nos cortávamos com gilete, para que os policias não nos prendessem, vejam aqui, tenho ainda cicatrizes. Eles tinham medo que a gente se cortasse”. Este medo, é claro, advinha do estigma de serem soropositivas, afinal, é neste período que a AIDS é considerada “o câncer gay”, a partir de uma cruel biopolítica.
Outro importante aspecto do depoimento de Weluma, é quando ela diz: “Eu não sabia o que era uma travesti, jamais tinha ouvido falar disso”. No período da Ditadura, como nos relata o texto final da CNV, outra forma de perseguir e invisilibizar travestis e gays é a censura, que impedia que o tema fosse falado, comentado, na televisão e em jornais.
O jovem homossexual, a jovem trans ou travesti, não tinha como saber de sua sexualidade ou de sua identidade de gênero. Não havia representação na mídia, revistas, ou outras formas de conhecimento. O que havia era aquilo que Hannah Arendt chama de “profundo sentimento de não-pertencer”, o pensar estar sozinho “Será que apenas eu sou assim”?, “Havia bares e todo um sub-mundo gay”, frequentemente invadidos pela polícia, e de difícil acesso para o jovem homossexual ou travesti pobres.
Não havia parâmetro de identificação com outros sujeitos como eles. Havia, outrossim, os discursos pecaminosos. Na pesquisa para a elaboração deste texto, não tive contato com nenhuma pesquisa sobre a taxa de suicídio de jovens durante a Ditadura Militar, suponho que deva ter sido alta, sobretudo entre os jovens LGBTs (termo ausente naquele período).
Também gostaria de exemplificar, com um trecho do Relatório da Comissão Nacional da Verdade, o olhar que a Ditadura civil-militar de 64, possuía acerca de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis e demais desviantes sexo-gênero:
A Revista Militar Brasileira, por exemplo, entusiasta do golpe, publicou artigos lamentando o declínio moral e o perigo da homossexualidade para a sociedade defendida por eles. Em 1968, no artigo “Rumos para a educação da juventude brasileira”, o general Moacir Araújo Lopes, membro do conselho editorial da revista, culpou a “infiltração comunista” feito por “pedagogos socialistas-radicais” como a causa do “desastre” cultural, religioso e sexual que a juventude vivia: “realmente, como designar a aceitação do homossexualismo, a vulgarização, entre a mocidade, do uso de entorpecentes e de anticoncepcionais, o enaltecimento do adultério, a aceitação pública da troca de esposas por uma noite, etc., etc., etc.”. Em 1969, o general Márcio Souza e Melo escreveu que “publicações de caráter licencioso (…) poder[ão] despertar variadas formas de erotismo, particularmente na mocidade, (…) contribuindo para a corrupção da moral e dos costumes, (…) sendo uma componente psicológica da Guerra Revolucionária em curso em nosso País e no Mundo”. Já em 1970, na revista Defesa Nacional, um autor, que usou um pseudônimo, argumentou que a mídia estava sob a influência da “menina dos olhos’ do PC” ( Partido Comunista, parênteses incluído por mim) e que os filmes e a televisão estavam “mais ou menos apologéticos da homossexualidade”. O general Lopes também publicou, na Defesa Nacional, um artigo contra “a subversiva filosofia do profeta da juventude” Herbert Marcuse, cuja filosofia promovia “homossexualismo” junto com “exibicionismo, felatio e erotismo anal”, além de ser parte de um plano de “ações no campo moral e político que (…) conduzirão seguramente ao caos, se antes não levassem ao paraíso comunista”. (Relatório CNV, pg. 292)
Além da caça à homossexuais e travestis nas ruas, para “limpeza”, empreendeu-se forte mecanismo de censura contra jornais, revistas, ou quaisquer outros meios que dessem alguma visibilidade a essas pessoas transviadas. Notório foi o caso do jornal “O Lampião da esquina”, destinada ao público homossexual, e que foi combatida amplamente pela censura, porém resistiu.
Quero destacar aqui, que para o olhar da Ditadura e dos sujeitos naquele período, não havia a distinção entre orientação sexual e identidade de gênero, como hoje o fazemos. Éramos todos “homossexuais” para eles. De modo que os registros da Ditadura, não esclarecem com clareza quem era travesti e quem não era.
Outro aspecto importante é sabermos que durante este período a homossexualidade (então conhecida como “homossexualismo”) era entendida como uma patologia. Muitos gays, lésbicas, travestis e transexuais foram internadas em manicômios como o Manicômio do Juquery, em SP, e o Manicômio de Barbacena, em MG. Alguns dos relatos destas pessoas podem ser conhecidos nos textos da historiadora Maria Clementina, do Departamento de História da Unicamp.
Quero ressaltar ainda a participação das lésbicas na resistência à Ditadura, com destaque à Cassandra Rios, autora do livro, censurado e proibido em livrarias, “Eudemônia”. Cassandra foi diversas vezes processada e perseguida pela Ditadura, não tendo havido ninguém que a defendesse ou se mobilizasse contra a perseguição realizada contra ela.
No movimento LGBT, lembramos sempre da Revolta de Stonewall, e esquecemos (ou desconhecemos) que o Brasil teve também a “mini-revolta de Stonewall” que ocorreu em São Paulo, no Ferro’s Bar, bar em que lésbicas reagiram a tentativa de expulsão delas, tanto pelo dono do estabelecimento, quanto pela polícia. Naquele espaço, panfletos de luta e liberdade sexual eram vendidos, e o ainda incipiente ativismo era discutido.
Renan Quinalha e James Green, recentemente lançaram um livro sobre o tema intitulado: “Ditadura e homossexualidades: Repressão, Resistência e busca da verdade” (Publicado pela EdUFSCar. Conversei ontem com Renan acerca do título do livro, e perguntei: “Por que homossexualidades?”, Renan me respondeu que não queriam ser anacrônicos, pois naquele momento, não havia a sigla “LGBT” e nem tampouco, se falava em “travestis”.
A justificava do autor é plausível, porém, é importante a problematização (que o livro traz já em seu primeiro capítulo) de que a travestilidade e a transexualidade não são “tipos de homossexualidade”, como sugere o título, uma vez que, já o sabemos com clareza desde Gayle Rubin e o artigo “Traffic in women: notes on the political economy of sex”, que orientação sexual e identidade de gênero são conceitos distintos. No caso específico do livro de Quinalha, é importante notar que, para o olhar da Ditadura, a travesti é apenas mais um tipo de ” gay”, e que o livro, por pretender-se fiel ao período, optou por tal nomenclatura.
O trabalho de encontrar onde estávamos ao longo da Ditadura apenas começou. Os sujeito desviantes, passam, agora, pelo momento de olhar para si, e se perguntar “Onde estávamos”?. O que sabemos hoje, é que a violência contra a comunidade LGBT, se deu em diversos âmbitos, na limitação de suas potências artísticas, na participação política, no trabalho, no exercício da liberdade, no conhecimento de si mesmo. Na patologização (ainda hoje sofrida pelas pessoas trans).
Acompanhe Pragmatismo Político no Twitter e no Facebook

