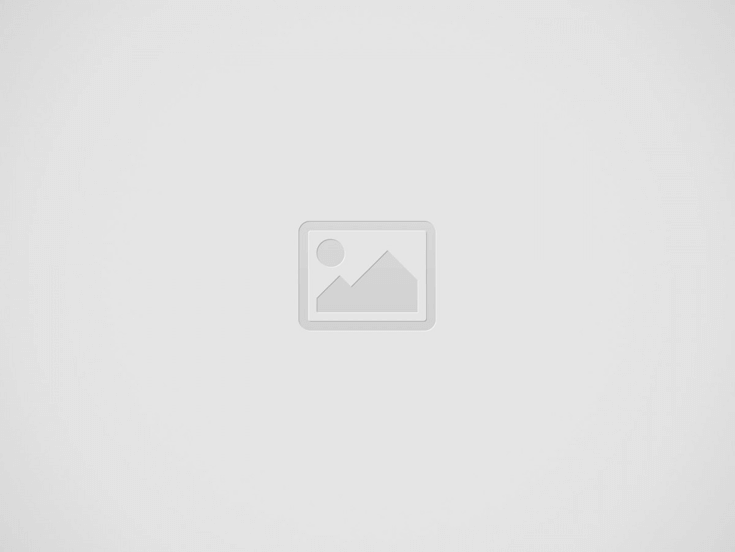

Jovens protestam contra crime bárbaro em Garissa (Quênia) que deixou mais de 140 estudantes mortos. Motivação foi a mesma alegada nos atentados em Paris, mas não houve indignação mundial (Pragmatismo Político)
Por que a vida de um queniano vale menos que a de um francês? A culpa é dos meios de comunicação do Brasil? Da mídia internacional? Dos governantes do ocidente? Nossa compaixão seletiva precisa ser discutida
Armando Antenore, Revista Samuel
Imagine que, numa madrugada de quinta-feira, quatro radicais muçulmanos invadissem uma universidade dos Estados Unidos, da Alemanha ou da Inglaterra. Imagine que carregassem explosivos e armas automáticas. Imagine que seguissem para os dormitórios estudantis e perguntassem a religião de cada rapaz ou moça que encontrassem por lá. Imagine que, se o jovem respondesse “sou cristão”, os atiradores o matassem. Imagine que os insurgentes permanecessem no campus durante 16 horas e mantivessem centenas de reféns, entre alunos e professores. Imagine que, depois de a polícia e o Exército tomarem conta da situação, a horrorosa jornada terminasse com um saldo de 148 mortos.
Como o Ocidente — incluindo o Brasil, claro — enxergaria a carnificina? De que maneira nossos jornais, revistas, televisões, rádios e sites noticiosos relatariam o fato? Cobririam a tragédia em tempo real? Enviariam correspondentes para a cidade onde se deu a tenebrosa investida? Continuariam destacando o assunto por quanto tempo: dias, semanas, meses? O que os internautas comentariam nas redes sociais e com que frequência? O Facebook estimularia campanhas de apoio às vítimas? Os chefes de Estado se pronunciariam imediatamente? Em que tom? Falariam que o atentado maculou não apenas o campus, mas todas as sociedades que se proclamam civilizadas? O infortúnio viraria um marco, sempre mencionado por gerações futuras?
Infelizmente, o crime bárbaro aconteceu há sete meses em Garissa, no Quênia. A república africana — e negra — reúne 47,3 milhões de habitantes, mais ou menos a mesma população da Espanha. Como dispõe de praias, savanas, florestas, lagos, montanhas e desertos belíssimos, atrai um número considerável de visitantes (não à toa, converteu o turismo num dos pilares de sua economia, majoritariamente agrícola). Ocupa a 82ª posição no ranking do Fundo Monetário Internacional que compara o Produto Interno Bruto de 183 nações. Embora não se trate de um país miserável, está longe de figurar entre as potências e enfrenta dificuldades severas em diversas áreas: educação, saúde, infraestrutura, segurança. Mesmo assim, exibe uma classe média pujante, o que faz crescer os olhos de investidores estrangeiros. Politicamente, é uma democracia, mas disputas étnicas, corrupção e fraudes eleitorais costumam ameaçá-la.
Os terroristas que tomaram o campus, na fronteira com a Somália, integravam o Al-Shabaab, grupo somali ligado à Al-Qaeda e combatido pelo Quênia desde o fim de 2011. Consideravam a universidade “um território muçulmano”, que precisava se libertar “dos infiéis”. Daí a ação sanguinária. Os quatro extremistas acabaram assassinados durante o cerco policial. Entre os 148 mortos, contavam-se 142 estudantes.
Há 17 anos, o país da África Oriental sofre ataques jihadistas de imensas proporções. Por que, então, pouquíssimos de nós mencionam o Quênia quando esbravejam contra o terrorismo? Você tomou conhecimento do que se passou na universidade? Recordava-se do episódio? Eu tomei, mas só me lembrava vagamente daquele 2 de abril. E a descoberta de não o guardar vivo na memória me angustiou pela manhã, quando avistei uma fotografia dos alunos mortos em meio à enxurrada de informações que ando consumindo sobre os recentes e terríveis acontecimentos da França. “Como posso não lembrar?!”, indaguei-me, perplexo. O ato escabroso ocorreu no primeiro semestre de 2015 e dentro de uma universidade, território que sempre julguei sagrado, que sempre quis ver protegido da intolerância, da brutalidade e da desesperança.
Para o Ocidente, um campus não agrega simbolismos parecidos com os do Bataclan, casa de espetáculos parisiense onde o Estado Islâmico provocou dezenas de mortes? Não representa a liberdade, a promessa de diálogo e o apelo à convivência pacífica? Não abriga a alegria e o inconformismo juvenis? No entanto, apaguei da mente e do coração tudo o que se desenrolou em Garissa. Aliás, antes da matança, nunca ouvira falar da cidade e não retive o nome dela após a pavorosa quinta-feira. Assim que recebi as notícias do massacre, não me preocupei em aprender mais sobre o Quênia e não procurei os testemunhos de quenianos na internet (uma das línguas oficiais de lá é o inglês). Tampouco vasculhei a mídia local atrás de análises, opiniões e histórias de solidariedade ou heroísmo. Não observei direito o rosto dos garotos e garotas que morreram antes de deixarem os próprios quartos. Não cogitei pintar meu retrato no Facebook com o vermelho, o preto e o verde que tingem a bandeira da república africana — até porque Mark Zuckerberg não me ofereceu nenhuma ferramenta capaz de efetivar a metamorfose nem minha curiosidade se prontificou a checar quais as cores nacionais do país.
Agora, à medida que faço essas pesquisas tardias, sinto-me como se desbravasse Marte. Percebo que o Quênia é, para mim, tão distante quanto o planeta alaranjado. Garimpo inúmeras reportagens e artigos sobre a terra das girafas, dos rinocerontes e das zebras, mas não consigo avaliá-los, tamanho meu gap de referências. Devo confiar no que leio? O que me afirmam as fontes britânicas, norte-americanas, espanholas, portuguesas e mesmo quenianas merecem crédito? Não tenho ideia, já que estou me aventurando por aquelas bandas pela primeira vez.
Lógico que Paris me soa infinitamente mais familiar. A questão, porém, não é conhecer melhor a França. O problema é não conhecer nada do Quênia nem nutrir uma empatia avassaladora pelos que moram ali. Afinal, no Brasil, negros e pardos ainda constituem a maioria da população. Dizem os historiadores que parte deles se origina de escravos “moçambiques”, assim designados porque vinham justamente de Moçambique e arredores, uma região que hoje engloba a Tanzânia, o Malauí, a Zâmbia, a África do Sul, o Zimbábue e… o Quênia! A França, em muitos sentidos, é aqui. Mas o Quênia também não é? Estima-se que, no século 19, entre 18% e 27% dos africanos que habitavam o Rio de Janeiro pertenciam à linhagem dos “moçambiques”.
Eu poderia culpar os meios de comunicação brasileiros, a opinião pública internacional e os governantes ocidentais pela apatia com que encarei a chacina de Garissa. Praticamente todos, de um modo ou de outro, abordaram a selvageria, mas sem persistência e sem aquilo que Aristóteles chamava de “a justa indignação”. Seria cômodo lhes atribuir o ônus da minha fraternidade seletiva. Ocorre que já possuo cabelos brancos suficientes para admitir o óbvio: a compaixão — a minha, a de você, a de Zuckerberg, a de Barack Obama, a do Papa — não deveria nascer somente do jeito como a mídia e a geopolítica descrevem o mundo. Eu soube do que aconteceu com a meninada do Quênia. Nós soubemos. A notícia nos chegou logo depois de o inferno baixar naquela universidade. Entretanto, conscientemente ou não, preferi esquecê-la. E tal escolha, à luz de como reagimos diante das atrocidades em Paris, se tornou inesquecível.
Acompanhe Pragmatismo Político no Twitter e no Facebook.

