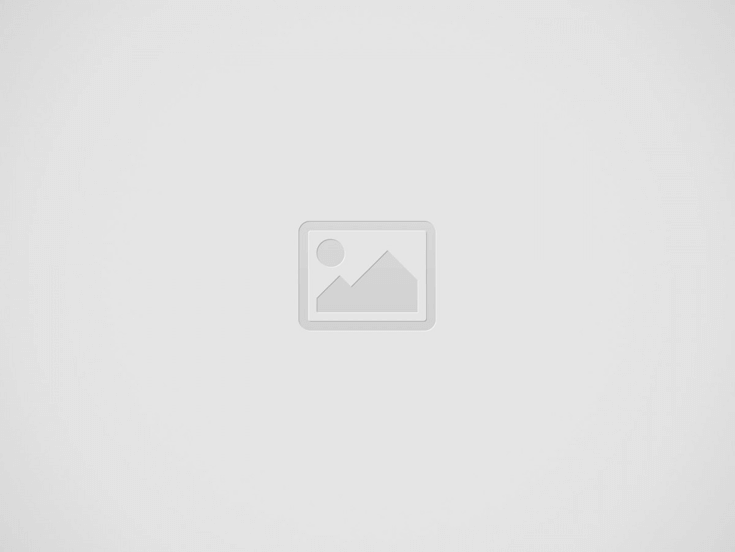

Como a liberação da maconha pode pôr um fim na já fracassada guerra às drogas, que mata principalmente pobres e negros, foi um dos temas da Conversa Pública
Fator de controvérsia constante, mesmo quando se cria consenso em torno de seu uso medicinal ou recreativo, o tema maconha ganha cada vez mais a atenção do público. Droga psicoativa ilícita mais usada no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 180 milhões de usuários a consumam no planeta.
No Brasil, levantamento realizado pela Unifesp em 2012 mostrou que cerca de 1,5 milhão de jovens e adultos usam maconha diariamente. E há pouco tempo, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso trouxe o tema de volta à baila ao defender a sua legalização como desafogo para a crise do sistema carcerário, colapsado há décadas.
Os entrevistados pelo jornalista Rogério Daflon, da Pública, o ativista Raull Santiago, da coletivo Papo Reto, o escritor João Paulo Cuenca e a pesquisadora Gilberta Acselrad, abordaram as diversas faces do tema, desde a criminalização, legalização, até seu uso medicinal e a qualidade do produto. Afinal, qual o impacto que a proibição da maconha tem na vida dos brasileiros e quais políticas públicas seriam adotadas se a droga se tornasse legal? O papo você confere a seguir.
Rogério Daflon – Cuenca, conservadores não liberais costumam dizer que “o playboy do asfalto financia a bala do fuzil do traficante com o seu baseadinho”.
João Paulo Cuenca – Dureza isso, né? Essa é uma falácia argumentativa terrível porque o que financia a bala, o fuzil do traficante é a política proibicionista. Essa bala do traficante, normalmente, é roubada da PM, e existe todo um lobby, um sentido econômico, um proibicionismo para que se vendam as armas, para que se venda mais segurança, para que a gente viva num estado policial. É um pouco a lógica do complexo militarista norte-americano: você precisa vender arma, você precisa vender míssil, então eu vou criar uma guerra. Eu estou vendendo. É o que importa mesmo se matar 2 milhões de pessoas no caminho. Esse tipo de raciocínio está baseado muito fortemente em uma desonestidade intelectual criminosa, porque tem consequências: está matando gente.
Rogério Daflon – Gilberta, como estão os outros países em relação ao Brasil? Em quem o Brasil pode se inspirar?
Gilberta Acselrad – O mais perto da gente é o Uruguai, que fez uma pequena revolução, legalizando o uso e tomando conta da produção, inclusive olhando os países vizinhos e regulando preço. É uma política interessante. E, pelo que a gente sabe, não houve disparada de consumo entre a população a partir dessa experiência. Lá em Portugal, se descriminalizou e legalizou. Eu estive em Lisboa e conversei com médicos que me disseram que diminuiu a incidência de problemas decorrentes de um uso dependente. Lá se distribui informação, se oferece tratamento para quem, por alguma fragilidade pessoal, um acidente de percurso, se torna dependente. Portugal também estabeleceu uma dose determinada que define o usuário, mas, mesmo quando é um pouco mais, a polícia encaminha a pessoa para a instituição de saúde. A instituição de saúde avalia: “é um pouco mais, não é um pouco mais”.
Rogério Daflon – Raull, uma das coisas que você diz é que as pessoas têm que entender que não é na favela que está a divulgação de maconha. Queria que você falasse por que colocam tanto peso nesse território.
Raull Santiago – Tenho 28 anos e há 28 anos sobrevivo numa lógica chamada de guerra às drogas. Essa guerra tem diversos recortes que precisam ser discutidos e que a sociedade precisa olhar com mais empatia e menos preconceito. A favela foi escolhida para ser o local onde a violência acontece, por conta de preconceito, racismo, manutenção da desigualdade social. E, pior, usam esses espaços, os nossos corpos e lares como cobaias de testes de diferentes armas. É uma forma de vender um medo para continuar vendendo armas e o falso entendimento de segurança. Nesse cenário, acho que, pra gente falar de maconha, acabo tendo sempre de falar de todas as drogas, porque, para além de descriminalizar, regularizar ou o que for, existe uma coisa muito perversa que não está nesses debates.
Quando a gente, por exemplo, descriminaliza o porte, o uso, quem vende continua sendo criminalizado, e quem vende é o pobre e o negro que está na favela. E isso vai se dar com todas as drogas. Durante 28 anos, vi muitos amigos sendo presos, forjados, envolvidos diretamente com o varejo das drogas ou não, perdendo suas vidas. Foram situações diversas de extrema violação de direitos das pessoas. Então, a minha preocupação é em torno do todo, de garantir a vida, de garantir acesso, de olhar a droga não a partir da violência, mas da saúde, do cuidado, de ter uma boa produção. São muitas discussões, mas trago essa realidade do que é viver dentro do cenário recortado, escolhido para ser o palco de uma guerra às drogas que nunca foi guerra às drogas. O que a gente está falando aqui não acontece lá na minha realidade. A única política pública que chega de forma efetiva e permanente dentro da favela é “caveirão” aéreo e terrestre, é a presença militarizada de espaços de pobreza. Antes de eu sair de casa, teve um tiroteio, e provavelmente quando eu voltar também vou ouvir tiro, talvez eu chegue na entrada da favela e tenha que esperar uma ou duas horas para subir ou dormir na casa de alguém próximo porque está tendo a tal da operação de guerra às drogas; então é importante essa discussão, mas não deixamos de discutir desigualdade social, racismo, preconceito e outras formas de exclusão, inclusive dentro do mercado das drogas.
Gilberta Acselrad – Sempre fui contra esse proibicionismo, sempre fui a favor da legalização, da regulamentação de todas as drogas, não só da maconha. E acho que a descriminalização não é suficiente. Quando o Raull estava falando, eu me lembrei de um aluno meu de muitos anos atrás, que na época era presidente da associação de moradores do morro da Formiga. Eu soltei uma frase muito cheia de base científica: “A primeira experiência com droga em princípio não é fatal”. Aí esse meu aluno levantou o dedo e falou assim: “Só se for na tua casa, porque você mora na zona sul e você é branca, porque no morro onde eu moro a polícia chega, chuta a porta, e abre fogo”. O ponto de vista é a vista de um ponto, do ponto onde eu estava, onde eu morava.
Rogério Daflon – O Cuenca escreveu um artigo para a Folha de S.Paulo, posicionando-se sobre o consumidor, que ele deve empatia com quem recebe toda essa violência por conta da guerra às drogas. Como é que sensibiliza os consumidores?
João Paulo Cuenca – O proibicionismo tem as suas razões, que é o controle social, e ele está baseado numa completa dessensibilização em relação às mortes que acontecem nas comunidades. É como se fosse Gaza. Se você está em Israel e jogam uma bomba em Gaza matando 2000 pessoas, quem está do outro lado do muro vai continuar com a mesma vidinha, pois não são seres humanos que morreram ali, são palestinos. O Rio de Janeiro tem várias Gazas dentro dele, e existe uma normalização da morte e do genocídio do jovem negro que é sintoma de uma sociedade enferma.
Veja, a polícia dá um tiro na cabeça de uma criança na frente de casa, o governador tinha que cair no dia seguinte, parava, porque, se fosse uma criança branca no Leblon, parava. Em 2004, teve uma chacina em Vigário Geral que matou 39 pessoas, e na semana seguinte eu escrevi uma crônica que era uma espécie de notícia de uma chacina no Leblon. O que aconteceria se a PM entrasse no Leblon e saísse atirando naquelas velhas reacionárias bebendo um cappuccino, ou nas criancinhas, nos casais brancos bem-sucedidos e os gringos do bairro? Parava! Ia ter intervenção militar, ia ter hashtag #salverio, ia ser um grande escândalo no mundo inteiro. Mas como a coisa está do outro lado do muro normalizamos.
Além da normalização dessas mortes, a outra coisa é essa ideia, essa falácia de que se a gente liberar as drogas a cidade vai virar um caos, os pés vão derreter… Imagina que maravilha se um ator, se um protagonista de novela – eu já devo ter visto uns 30 usando drogas –, se um desses caras falasse “eu realmente sou um bom maconheiro”, daí você começa a mudar a percepção da sociedade e a naturalizar o consumo. Isso é algo que a cultura americana começou a fazer nos anos 1970. Você vê maconha nos seriados americanos, celebridades falam na droga e a sociedade vai naturalizando. A gente tem que naturalizar o uso da droga, e não naturalizar a morte.
Rogério Daflon – Raull, você acha que a droga é usada como desculpa quando se fala em manter um território sob controle?
Raull Santiago – Totalmente. Como eu falei, a presença de política pública é na lógica do combate às drogas; então, se explora a droga como algo ruim ou algo extremo, que “precisa livrar a sociedade disso”, e esse reflexo bate nas favelas, com a violência, com o controle por meio do medo… Acho, sim, que passa por essa situação, assim como a não valorização de quem vive nessas realidades.
Na segunda-feira, foi enterrado um amigo meu. O nome dele prefiro não falar em respeito à família, mas ele é como um obreiro da Igreja Universal, então já quebra o “nossa, ele estava envolvido”. Não, ele era um cara religioso, estava com a esposa comprando batata frita, um pouco mais para dentro de um dos acessos da favela, quando começou uma operação-surpresa da polícia. Um carro policial parou na entrada da favela, abriram a porta, e policiais saíram correndo divididos em dois grupos. Um grupo foi por um beco e o outro pela rua. O grupo que foi para o beco chegou numa parte apertada e disparou uma rajada de fuzil, talvez por medo, e metralhou a casa de uma outra moradora, que me ligou desesperada. Eu fui até lá e a geladeira dela estava com seis buracos de fuzil calibre 76; nem todos os chumbos vararam, então tinha chumbo ali, e os outros que vararam atravessaram a casa dela, que tem dois cômodos de tijolo, quase acertando a cabeça dela, que na hora estava na cozinha. O grupo que foi por baixo também deu uma rajada pra dentro da favela, e um tiro atravessou os dois pulmões do meu amigo, estourando um deles. Ficou um dia internado, morreu. Nem na favela virou notícia, mas os familiares e as pessoas mais próximas choraram e sentiram essa dor. Então essa é uma realidade realmente cruel.
Marina Dias – Pergunta da Mayara Sales, que assiste a gente pelo streaming do Facebook: qual a diferença entre descriminalização, liberação e regulamentação das drogas?
Gilberta Acselrad – A gente pode fazer um paralelo com o álcool, porque ele já foi proibido durante a Lei Seca nos EUA, quando morreu gente à beça. Legalizar todas as drogas não é uma coisa do outro mundo. Essa criminalização e proibição é muito recente em termos históricos. Nos países onde já houve a regulamentação do uso terapêutico da maconha, os fregueses não são jovens, são mulheres como eu, com artrite, artrose, que não conseguem dormir. Também o óleo de canabidiol… Vocês já devem ter visto crianças que tem 36 convulsões por dia, e as mães felicíssimas porque depois que os filhos começaram a tomar o óleo passaram a convulsionar menos. Mas a diferença é essa: a regulamentação vem com a legalização. A pessoa que faz uso da maconha tem que se cadastrar. Aí, por exemplo, não pode dirigir sob efeito. Isso é a regulamentação.
Rogério Daflon – Cuenca, você acha que a conjuntura do país leva as pessoas a consumir mais drogas? E essa droga que já vem malhada por conta da falta de legalização também não é grave?
João Paulo Cuenca – O consumo de drogas pela humanidade independe de conjuntura. Desde a Antiguidade você tem registros de consumo de substâncias que expandem a consciência ou que têm efeitos psicodélicos. Isso é uma coisa tão antiga quanto a linguagem, e em um momento ou outro a gente precisa mais.
A saúde, sim. Obviamente, se você está com o mercado regularizado, você tem um controle de qualidade das drogas, você tem vários motivos de saúde pública para que isso seja regulamentado, mas a maior urgência não é essa. Eu não quero que a droga seja completamente legal para cheirar a boa cocaína. Eu quero que a droga seja legal para que pare de matar gente. A gente vive um Estado democrático de direito seletivo. No Alemão, não tem Estado democrático de direito. Grande parte dessa marginalização é baseada numa política de proibição de drogas, que mata muito mais do qualquer droga malhada é capaz de matar. Sempre que eu vou em comunidades, pergunto para as pessoas quantos amigos seus já morreram de bala? As pessoas ficam contando, tipo 20, 15…
Rogério Daflon – Raull, vocês têm algum tipo de defesa contra essas ações policiais?
Raull Santiago – Bom, o Coletivo Papo Reto, do qual faço parte, trabalha com a criação de redes com a cidade usando muito da comunicação independente como ferramenta para expor as violências diversas que existem lá dentro e também para provocar a cidade a refletir que não é apenas violência que existe dentro da favela. Então, por exemplo, uma das principais ferramentas de comunicação independente do Papo Reto, mas que todos vocês devem usar, também é um grupo de WhatsApp. Só que a gente criou um grupo estratégico.
O Complexo do Alemão tem ao todo 16 favelas, quase 300 mil moradores. Nós pegamos duas ou três pessoas de cada uma das favelas e a diversidade existente – homens e mulheres, mototaxistas, motoristas de Kombi, comerciantes, enfim, todo um grupo – e durante 24 horas trocamos informação sobre violência no complexo: “Olha, está tendo um confronto em tal área evita passar por lá”; “Olha, a Kombi parou de subir agora porque está tendo um confronto em tal parte”. Então a gente se organiza para sobreviver, mas é triste que a nossa vida gira em torno disso. Então, quando eu acordo de manhã, se eu tiver que sair, eu não pego o meu telefone para saber se a reunião foi cancelada, mas para saber se está dando tiro e se eu vou conseguir descer a rua inteira. A gente tem o “caveirão” que para no principal acesso, abre a porta, e policiais descem indo na nossa casa independente do horário, realizando diversas operações em horário escolar… Então, a gente usa dessa comunicação independente, dessa rede, para tentar frear de forma desesperada essa situação que nada resolve. Ao contrário, ela só alimenta a revolta.
Rogério Daflon – E o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), quando chega lá, a primeira pergunta para os adolescentes é a qual facção pertencem. Queria saber se vocês têm essa experiência com o cárcere desses adolescentes por conta da droga.
Gilberta Acselrad – Nunca vi um branco de zona sul dentro do Degase. Quando eu frequentei o lugar algumas vezes, era terrível, era filme de terror; os meus alunos que eram funcionários de lá, assistentes sociais e psicólogos, estavam deprimidos, desesperados, sem saber o que fazer porque é um depósito, né? Quer dizer, o sistema não é organizado de forma solidária, de forma democrática; é um sistema de eliminação mesmo. Em português claro, o que esses dirigentes pensam é que a ralé deve ficar no seu devido lugar, mas ela quer sair, quer fazer cultura, quer ir à praia de Ipanema. Então, quando ela sai, aí você tem que revistar o ônibus, porque você não pode deixar se misturar.
Maria Eugênia – Eu queria saber como é que fica a questão num contexto de legalização. Como a gente trata a iniciativa privada?
João Paulo Cuenca – A minha opinião é que os interessados possam ter informação e possam consumir tudo com controle, com bula. A gente vive numa sociedade narcotizada. O Brasil é líder mundial do consumo de Rivotril, remédio controlado. Como é que a gente consome mais Rivotril que os EUA? Eu sei os efeitos do Rivotril e, se eu comprar um em uma farmácia em Botafogo ou no centro, ele vai ser o mesmo, pois existe uma agência estatal que controla essa qualidade. Então eu acredito, sim, que tudo tem que ser legalizado, e toda essa informação tem que estar disponível. Tem que legalizar tudo mesmo – isso é um processo histórico –, mas, de outro lado, você tem que atacar a política de repressão.
Julita Lemgruber – Sou do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania: CESeC. O ministro da Justiça acabou de convidar o general do Exército Carlos Alberto dos Santos Cruz para ser o secretário nacional de Segurança Pública. Ele vai ter a responsabilidade de tirar do papel o plano nacional de segurança pública. As coisas já estão ruins, e a gente ainda tem chance de piorar muito.
Rodrigo Candelot – Acho todas essas discussões superpertinentes, louváveis, mas fui nessa semana em uma discussão com o Marcelo Freixo também, e se falou muito lá que a esquerda tem um papel prejudicial porque as coisas ficam muito nas ideias e as pessoas, às vezes, na favela, nem entendem o que o pessoal da esquerda fala. O que a gente vai fazer com essas discussões? Quer dizer, o que a gente pode fazer para se juntar e fazer com que essa voz realmente chegue nos governantes e isso possa mudar?
João Paulo Cuenca – Eu concordo em parte com a crítica que se faz à esquerda, e existe uma espécie de repulsa por vir a ser quadro. Por exemplo, você compara junho de 2013 com as “jornadas amarelinhas” do ano passado. Você tem um movimento inicialmente bem- sucedido que conseguiu a coisa do passe livre, de reduzir os 20 centavos, mas ninguém quis virar quadro, não quiseram se vincular a um partido político, ou a candidaturas. Os secundaristas se organizam para conseguir coisas específicas, mas que têm uma espécie de repulsa da política, porque é um meio sujo. E é isso. E eu citei em outro lugar o MBL, que não tem nenhum pudor de criar quadros, de criar candidaturas e de influenciar a Câmara de Vereadores de São Paulo para a direita.
Mas acho que o principal problema é que essa transformação não sai daqui e nem de mim, ela sai dele [Raull Santiago], ela sai da Maré, não sai de Botafogo. O meu trabalho é marginal, nada que eu faça vai ser mais importante do que essa articulação que vem de lá. O que vai mudar esse país é a organização política que vem deles. Eu estou falando deles porque é isso mesmo, eu chamo de PPP, o Partido dos Pobres Pretos. Se eu achasse que eu pudesse ter uma força política relevante, eu até me candidataria a alguma coisa, mas eu não posso. Ele pode [Raull Santiago], ele que vai mudar o Brasil…
Acompanhe Pragmatismo Político no Twitter e no Facebook

