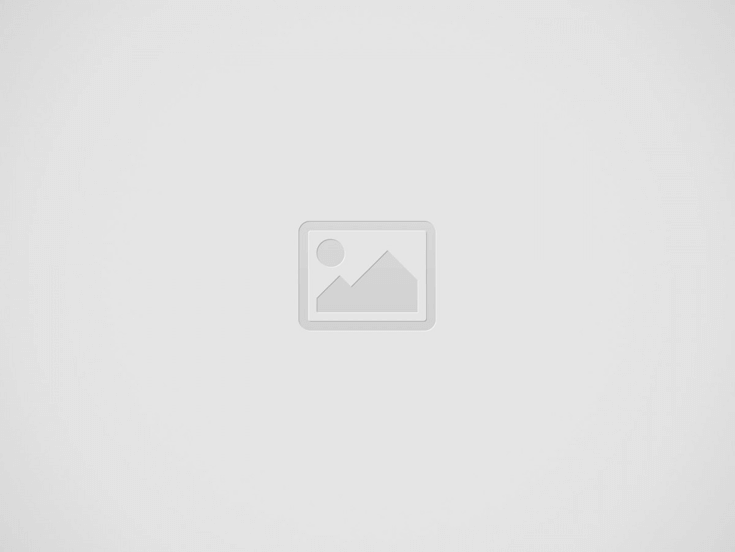

O mito não é algo que existe para além de um sistema de significação, porém é certo que ele mobiliza paixões. O mito é construído por deslocar o signo de um contexto, levando-o a funcionar em outro contexto. Collor também tornou-se mito: um signo descontextualizado e levado a funcionar como símbolo da ética e de combate à corrupção
José Isaías Venera*, Pragmatismo Político
A incitação à violência fez do presidenciável Jair Bolsonaro um mito. Seu significado multiplica-se nos seus seguidores, nas falas e nos atos. Em entrevista concedida em 1999, Bolsonaro defendeu que era preciso fazer “o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil, começando com o [Fernando Henrique Cardoso] FHC”. Em evento dirigido a empresários e investidores, no Rio de Janeiro, Bolsonaro sugeriu metralhar a Rocinha como meio para eliminar a bandidagem, informação publicada na coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo de 11 de fevereiro de 2018.
Enunciados de violência repetem-se, repetem-se até o verbo virar carne. Carne morta. A vereadora do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) Marielle Franco, brutalmente assassinada em 14 de março deste ano com o motorista Anderson Gomes, agora, nas eleições, teve a placa de rua em sua homenagem arrancada e quebrada por dois “gladiadores” com a estampa de seu “imperador”, Bolsonaro, na camiseta, como se estivessem num ritual de sacrifício bárbaro, só que a arena deles foram as redes sociais da internet, por onde divulgaram um vídeo exibindo a perversidade.
Moa do Katendê, mestre da capoeira, autor de Badauê, foi esfaqueado covardemente pelas costas até morrer por um apoiador de Bolsonaro na noite após as eleições do primeiro turno. A voz do presidenciável espalha-se como uma marcha fúnebre.
Em abril de 2016, ao votar pelo encaminhamento do impeachment de Dilma Rousseff para o senado, o então deputado federal Jair Bolsonaro citou o coronel Carlos Ustra, torturador do Destacamento de Operações de Informação-Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi). Torturador de Dilma. Um perverso que se tornou mito. São vozes repressoras que se condensam em personagens, tornando-as mitos porque funcionam como elo de identificação com centenas e centenas de sujeitos.
O mito é um signo de gozo
O gozo do algoz é a excitação do opressor numa sociedade marcada por uma estética masoquista. O discurso de ódio do presidenciável é colocado em ato por seus seguidores como se estivessem em um ritual de purificação. Purificar o Brasil da “promiscuidade”, das “raças inferiores”, do nordestino, que, no imaginário, simbolizaria atraso e pobreza. Purificação que exclui a negritude, porque, como nos lembra Elza Soares, “a carne mais barata do mercado é a carne negra”.
Talvez essa seja a única forma de dar sentido ao apoio ao candidato que incita à barbárie, às portas de vencer a eleição presidencial. Esse Brasil, que tardiamente tentou acertar as contas com a escravidão e a ditadura militar, vê aflorar o que há de pior no ser humano: sua parte não humanizada, como se uma epidemia zumbi saída da ficção se alojasse nos corpos anulando a razão.
O mito é um verbo que se faz carne
O presidenciável é um mito. Estamos de acordo com seus apoiadores. Mas o desacordo vem quando praticamos a ética das terminologias. Por mito, atribuo o mesmo sentido elaborado por Roland Barthes, ou seja, uma fala aparentemente despolitizada, uma distorção da realidade que se naturaliza na sociedade. Em Barthes, a palavra mito é deslocada de sua etimologia grega e passa a adquirir o sentido de mentira, de mitificação. Por isso o título de seu conhecido texto: “O mito, hoje”.
O mito não é algo que existe para além de um sistema de significação, porém é certo que ele mobiliza paixões. O mito é construído por deslocar o signo de um contexto, levando-o a funcionar em outro contexto. As populares fake news (notícias falsas) são estratégias para a fabricação de mitos, construindo superpoderes a alguém, que se torna um signo. Um exemplo de presidente eleito que se tornou um signo sem lastro com sua prática foi Fernando Collor de Mello. Um ano antes das eleições presidenciais de 1989, a mídia corporativa tornou nacionalmente conhecida a expressão “caçador de marajás” em referência a Collor, o que não passaria de uma estratégia no período de governador de Alagoas de 1987 a 1989 para, com o marketing midiático, chegar à presidência. Em março de 1988, a revista Veja dedicou a capa a ele: “Collor de Mello: o caçador de marajás”. Collor tornou-se mito (um signo descontextualizado e levado a funcionar como símbolo da ética e de combate à corrupção) por um curto período de tempo, o suficiente para ganhar as eleições.
O mito não é exclusividade da direita (na esquerda sua estruturação é outra), mas, nesse campo discursivo, ele tem, seguindo Barthes, uma expansão precisa: “A exata medida da omissão do nome burguês”. O que isso quer dizer? Que o mito da direita é uma linguagem que busca eternizar a posição do opressor. Bastaria recorrer a poucos vídeos com falas de Bolsonaro para saber que ele é contra as escolas públicas, o Sistema Único de Saúde (SUS), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os programas sociais e os direitos humanos.
Tudo o que foge do padrão homem-branco-ocidental-macho-adulto-razoável-heterossexual-habitante das cidades, para usar uma expressão de Gilles Deleuze, precisa ser banido. Bolsonaro é contra as políticas de amparo e proteção aos economicamente menos favorecidos, aos que fazem outros usos da sexualidade, ao movimento livre da arte, à educação emancipadora. Um mito que funciona como vampiro que se eterniza com o sangue dos mortais.
O mito ganha força no núcleo central do sujeito
Costuma-se usar a cebola como metáfora de núcleo central do sujeito. Pode-se aos poucos tirar as camadas até chegar ao seu núcleo central, ou seja, o vazio. Podemos entender o sujeito como construção discursiva, sobretudo porque as camadas que constituem esse sujeito são discursivas. Discursos religioso, científico, da mídia, da família…
Operando mais uma volta nessa lógica, é possível afirmar que não há discurso ancorado no real objetivável. Os fatos que teriam força de objetivar o discurso não falam por si mesmos; é sempre preciso fazê-los falarem com base em uma narrativa que ordena e disciplina seu sentido, dando significado à realidade.
Inserir o presidenciável na narrativa de mito é, ao mesmo tempo, colocar-se numa servidão voluntária, posicionando-se servo para realizar o desejo de seu senhor. Nesse caso, a linguagem de Bolsonaro são palavras de ordem que incitam o ódio e a prática de violência. Não estamos aqui numa interpretação subjetiva, como de fabricar argumentos para relacionar o Partido dos Trabalhadores (PT) ao comunismo a fim de tornar o Brasil uma Cuba ou Venezuela. O perigo comunista é um signo recorrente para produzir terror e, assim, efetivar o golpe. Em 1937, com o golpe do Estado Novo (1937-1945) e o da Ditadura Militar, em 1964 (até 1985), o diabo vestia vermelho. Nas vezes que o ex-presidente Lula participou das eleições presidenciais, além de vestir vermelho, tinha a bandeira vermelha com uma estrela no lugar da foice e do martelo, o diabo do comunismo.
Esses discursos descontextualizados que reduzem movimentos históricos com suas contradições entre teoria e prática estão a serviço de mitificar o mal. Para que o mito do herói sobressaia, seria preciso dar corpo ao mito das trevas. Operando nesse imaginário, Bolsonaro, em sua primeira aparição no Jornal Nacional (8/10) após passar para o segundo turno das eleições, cita o versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João: “E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará”. Na disputa eleitoral como local de produção de sentido sobre o versículo, a “verdade” libertará, para o candidato, é o Brasil do mal, do diabo que veste vermelho.
Diferentemente da construção mítica, a incitação à violência é enunciada pelo próprio candidato sem meias palavras, tornando-se gesto e lema de sua candidatura o braço estendido e a mão simulando uma arma. E de simulação eles entendem. O perigo maior é quando a aparência ganha forma real, como nos exemplos já citados.
Reação à violência e ao ataque à democracia
O escritor norte-americano Herman Melville criou uma fórmula paradoxal em seu livro Bartleby, o escrivão: uma história de Wall Street, publicado em 1853. Quando o narrador – advogado de um escritório – relata seu intrigante movimento para interagir com o escrivão sobre os trabalhos a fazer, ele sempre respondia: “Preferiria não”.
Na literatura, o escrivão Bartleby usa essa fórmula “preferiria não” às últimas consequências, rompendo os valores que naturalizam formas sedimentadas de vida. Ao contrário, a linguagem dominante teria função de aprisionamento e de ordenamento nas relações sociais. Em certa medida, o movimento #EleNão tem direção parecida com o uso libertário de Bartleby, ou seja, de fazer um uso menor da linguagem, destituindo-a das convenções sociais. Uso parecido fez uma manifestante do Movimento Passe Livre (MPL), em junho de 2013, quando um repórter quis saber seu nome para identificá-la e enquadrá-la, provavelmente, numa narrativa de criminalização. Como saída, a manifestante disse: “Meu nome é ninguém”, como mostrou o filósofo Peter Pál Pelbart em um importante artigo, “Anota aí: eu sou ninguém”, publicado na Folha de S.Paulo em 19 de junho de 2013.
Até o sábado (29/9) das manifestações, poderíamos afirmar que a cada dia crescia mais o movimento #EleNão, como um mutirão de anticorpos combatendo uma infecção zumbi que poderia destruir o corpo democrático. Os movimentos país afora fizeram isso sem partidarizar, sem personalizar a luta numa personagem, o que poderia deixar a militância de Bolsonaro em vertigem, sem ter um alvo a mirar.
Mas, ao contrário, as pesquisas eleitorais lacravam o avanço do candidato. Impossível precisar os motivos. Outros eventos agiram como campanha política camuflada, como o vazamento da delação de Antonio Palocci pelo juiz Sérgio Moro, numa explícita manobra política.
Para entender a gravidade do discurso de ódio que tem cativado mais do que tirado votos apesar do movimento #EleNão, vamos a um caso ainda no primeiro turno que pode ser interpretado como um signo de uma cadeia de significantes, ou seja, como um acontecimento que já vem de uma sucessão de outros e que, agora no segundo turno, tem demonstrado sua efetividade em ato.
Da performance artística à apologia à tortura
Quando o artista Ronaldo Creative fez a performance crítica com um gesto (efeito) de tortura sobre seu próprio corpo, escrevendo no peito #EleNão, registrou a cena e divulgou-a em seu Instagram. Talvez tivesse unicamente intenção de expressar, ao seu modo, sua adesão ao #EleNão. Basta olhar rapidamente nas redes sociais para encontrar todo tipo de expressão, desde letras desenhadas que lembram a imagem de Hitler com o enunciado “Ele Não”, até a própria imagem do presidenciável com a boca aberta misturada com a saída de esgoto sobre a montagem “#EleNão”. Não há como reprimir um movimento horizontal, desterritorializado, fluido, que não se concentra num ponto de difusão.
O sentido estava claro como o sol do meio-dia. Expressava, ali, o desejo do presidenciável e de seus seguidores de retorno à ditadura militar para levar seus opositores à tortura. O que parecia um exagero acabou se confirmando com a reapropriação feita pelo filho do presidenciável no dia 25 de setembro, cinco dias antes das mobilizações nas ruas do #EleNão.
Até então, apenas mais uma de tantas outras formas de dizer “Ele Não”, certo de que a imagem assusta, mesmo identificando de imediato que se trata de uma performance artística. Mas não deveria assustar quem não cansa de defender as torturas feitas na ditadura militar. Quando o filho do presidenciável Carlos Bolsonaro faz uma replicagem, ele insere um novo enunciado: “Sobre pais que choram no chuveiro”. Rapidamente, torna-se um acontecimento midiático.
Muda-se o contexto, altera-se o sentido para o ordenamento do mito
Não é preciso recorrer a nenhum teórico para saber que o significado que podemos dar às coisas depende das condições de sua produção e da circulação do discurso. Quando um artista divulga uma imagem de tortura com o enunciado no peito #EleNão, fica evidente que opositores do bolsonarismo estão sob a mira de sofrerem violência.
Ao republicar a imagem e inserir nela o enunciado “Sobre pais que choram no chuveiro”, recorrendo a uma expressão entre pais que não aceitam a orientação sexual dos filhos, o vereador do Rio de Janeiro acabou por confirmar a crítica do artista, trazendo outros elementos além da tortura, a homofobia. É evidente que caberia sempre um gozo bolsonariano a mais, como o racismo, o sectarismo etc.
Na produção e circulação inicial, o sentido estava muito claro. No segundo movimento, ao se apropriar da imagem, o familiar Bolsonaro faz circular um sentido invertido. Sabemos que, em um confronto, esperava-se isso do opositor. O que era uma crítica a apoiadores da tortura se tornou apologia acrescida de homofobia.
O fake do fake news
A dupla volta do fake news é a verdade tornada mentira. Em tempos em que tudo é fake news, o verdadeiro torna-se falso. Assim que os maiores jornais e revistas impressos começaram a noticiar em suas plataformas online a replicagem no Instagram de Carlos Bolsonaro, a informação proliferou-se rapidamente pelas redes sociais.
A estratégia da militância de Bolsonaro não perdeu tempo. Para amenizar o impacto, começou a afirmar que se tratava de fake news. Mas já era tarde. Próximo passo foi querer misturar os sentidos ao afirmar que à publicação de um “esquerdopata” não se faz críticas, mas, quando é de alguém ligado ao presidenciável, a mídia condena.
Saiba mais:
Nova notícia falsa acusa Haddad de pedofilia e incesto
Vídeos sobre Manuela D’Ávila devem ser removidos, determina TSE
TSE manda Bolsonaro remover vídeos sobre ‘kit gay’
As 10 notícias falsas mais populares da eleição são a favor de Bolsonaro
Justiça manda remover 35 notícias falsas contra Fernando Haddad
Filho de Bolsonaro volta a espalhar informações falsas sobre Haddad
Por que Bolsonaro fugiu do compromisso para combater fake news?
Bolsonaro chama Haddad de canalha ao recusar acordo de combate às fake news
Manuela D’Ávila é a principal vítima de fake news na eleição de 2018
“Mamadeira erótica de Haddad” – a fake news que viralizou nas redes sociais
Imagem falsa de Manuela D’Ávila com blusa ‘Jesus é travesti’ viraliza nas redes
‘O pior prefeito do Brasil’: como se constrói uma manipulação
Datafolha: 61% dos eleitores de Bolsonaro se informam pelo WhatsApp
Campanha de Bolsonaro espalha fake news sobre imagens do #EleNão
O raciocínio segue um princípio arcaico, de que as imagens copiam o real. Se a imagem é uma simulação de tortura, não é tortura. Se não foi o familiar Bolsonaro que a produziu, ele não pode ser julgado por isso. Raciocínio confortável a uma mente autoritária, na qual nunca haveria o que se discutir, as coisas são o que são. Mas não é da foto simulando uma tortura de que se fala, e, sim, do que ela pode significar para além dessa obviedade. Ora, para o artista significa algo oposto a quem a crítica se dirige.
Para além de reduzir o debate das fake news à suposta irredutibilidade das fontes (certamente importantes no gênero notícia), o que já bastaria, nesse caso, para afirmar que as notícias veiculadas pelos jornais não se referiam a conteúdos falsos, é preciso, ainda, ter cuidado com a dimensão virtual da notícia.
O imbróglio do falso ou verdadeiro que atravessa a história do jornalismo moderno (cuja principal invenção é o gênero notícia) diz respeito ao que se pode dizer das fontes, por meio das quais a linguagem se torna discurso, qualificando, ordenando, direcionando o modo de ler os acontecimentos. Por intermédio do discurso, mesmo ancorado em um procedimento objetivo, objetos da realidade passam a ser vistos por determinado ângulo e pelo qual sujeitos e instituições demarcam seus posicionamentos.
Em uma democracia, mesmo que frágil, espera-se de seus integrantes a repulsa à tortura, aos ataques aos direitos humanos, como os discursos homofóbicos, sexistas e racistas. Posicionar-se não significa distorcer a realidade, mas entender que ela é uma prática discursiva pela qual se busca construir determinado horizonto coletivo.
O mito convoca a violência
A verdade não se resume aos fatos. Ela está relacionada ao posicionamento ético no discurso, na narrativa que se forma. Não há discurso sem posicionamento, mesmo quando se busca omiti-lo. Por outro lado, quando alguém não assume suas práticas jogando para o outro a violência dos seus gestos, opera-se sobre um discurso cínico.
Esse embate sobre o controle dos sentidos, o que não deixa de ser o controle sobre o ordenamento dos fatos por meio de uma narrativa, tem sempre um passo à frente, mirando num futuro imaginário. Nesse caso, o futuro era bem próximo. O familiar Bolsonaro fez a replicagem (inserindo um novo enunciado) cinco dias antes das manifestações contra o presidenciável por todo o país.
O gesto de tortura no sentido que o familiar Bolsonaro fez funcionar parece ser bem assertivo para sua militância: o fomento à violência.
Leia também:
Religiosos lançam alerta contra a ameaça da barbárie
Sua tia não é fascista, ela está sendo manipulada
Evangélicos dizem que Malafaia, Bolsonaro e Edir Macedo formam “elo da mentira”
A sedução (e o veneno) do extremismo
Faça um teste rápido e descubra se você é fascista
Há uma intervenção autoritária em marcha no Brasil hoje
Bolsonaro: o subversivo sem subversão
O ataque a Bolsonaro e a laicidade estatal
Os desdobramentos das fake news no caso Bolsonaro
A extrema-direita pró-Bolsonaro tem limites?
Brasil vive fenômeno político sem precedentes
Como diferenciar a direita da esquerda?
Quem quer ser um cidadão de bem?
A história do surgimento e da ascensão da bancada evangélica na política
*José Isaías Venera é jornalista, professor universitário e colaborou para Pragmatismo Político.
Acompanhe Pragmatismo Político no Twitter e no Facebook


