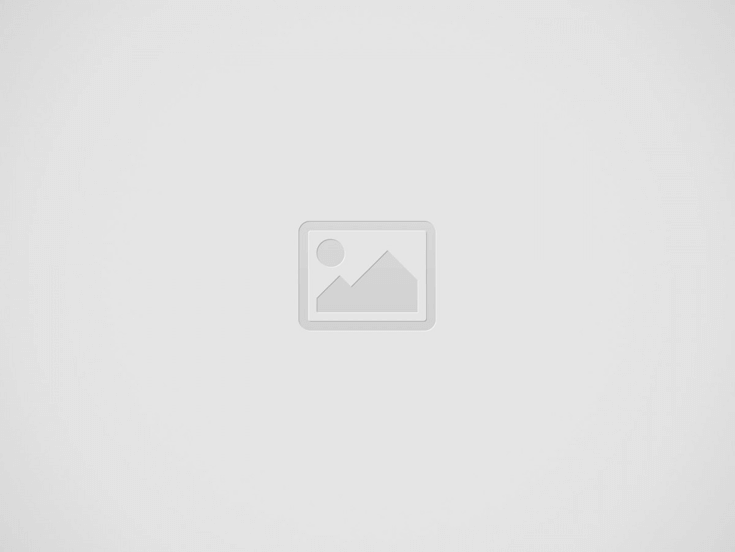

Cena do documentário Holocausto Brasileiro (Imagem: captura de tela)
Holocausto brasileiro: a história da morte de mais de 60 mil internos que eram mantidos em condições subumanas no maior hospício do Brasil
Vice
Você vai ficar em frente à TV por uma hora e meia e, depois que o documentário terminar, não vai saber o que sentir. A reflexão após Holocausto Brasileiro (HBO e Vagalume Filmes, 2016), filme baseado no livro homônimo da jornalista Daniela Arbex, lançado em 2013 pela Geração Editorial e segundo lugar no prêmio Jabuti na categoria livro-reportagem, é dolorosa. Choca, enoja, emociona. Conta a história vexatória do Hospital Colônia, em Barbacena, no interior de Minas Gerais (MG).
Por décadas, desde o início do século passado, pacientes que apresentavam sintomas de doenças mentais e psicológicas foram tirados de todos os cantos do Brasil para serem submetidos aos mais aterrorizantes tratamentos, sob condições sub-humanas. Em determinados momentos, eram jogados em pátios, nus, em meio ao frio congelante das montanhas mineiras e por ali ficavam, por todo o dia, todos os dias.
Por causa deste tratamento, segundo os dados coletados pela jornalista, 60 mil pessoas morreram. Seus corpos foram depositados, aos montes, em um cemitério claramente muito menor que o recomendável, ou pior, foram vendidos para faculdades de medicina do país inteiro, como indigentes. Alguns internos conseguiram sobreviver e contaram histórias no filme com a naturalidade de quem passou tanto tempo preso que se acostumou com a cruel realidade.
A HBO disponibiliza, a partir deste sábado (26), sua segunda produção nacional em todos os países da América Latina. No Brasil, o filme é exibido pelo canal HBO MAX desde domingo (20). Ainda não há definição oficial sobre a inserção do documentário do circuito comercial, mas a expectativa da equipe é rodar o Brasil em festivais nos próximos meses.
A pré-estreia lotou quatro salas de cinema no Rio de Janeiro (RJ), uma em São Paulo (SP) e duas em Juiz de Fora (MG). Durante o filme, soluços eram frequentes por toda a plateia, como quem quase engasgava com o choro automático e, ao final, centenas de pessoas perplexas buscavam explicações que não existem.
Menos de uma semana após a estreia na TV, a receptividade ao filme tem impressionado. Espectadores xingam os personagens, riem e choram. Nas redes sociais, a equipe precisa lidar com centenas de comentários diários. A história, que foi descoberta em 2011, por meio de imagens do fotógrafo Luiz Alfredo para a revista O Cruzeiro feitas em 1961, continua tocando cada vez mais pessoas.
Leia também: A “loucura dos normais” em Barbacena
A Vice conversou com Daniela Arbex, autora do livro — que já vendeu 250 mil exemplares —, roteirista e uma das diretoras do documentário, ao lado de Armando Mendz. Arbex falou do impacto de um trabalho pessoal que já dura cinco anos e de todas as dificuldades em torno do tema:
VICE: Para você, que é dona do livro e do filme, a história contada foi a mesma?
Daniela Arbex: Eu falo que o livro complementa o filme e o filme complementa o livro, um não esgota o outro, porque o livro tem personagens que o filme não tem e o filme traz personagens muito poderosos. Então, até o leitor do Holocausto, que é fã e já leu várias vezes, se surpreendeu com o documentário. Eu dei voz, no livro, para os personagens, mas através da minha escrita. No filme, você ouve eles mesmos falando. Isso tem peso, é único. O filme teve pontos muito altos e nada foi planejado. Isso é muito forte.
Qual foi a parte mais difícil do documentário?
Nós assinamos o contrato em dezembro de 2014 e, em março de 2015, fomos para Barbacena. Aí começa toda uma negociação com o Governo de Minas para entrar no hospital. Foram dois meses de negociação. Entrar lá de novo foi a parte mais difícil. Isso e a hostilidade de uma parte da população de Barbacena.
Com medo da cidade ficar estigmatizada?
Sim, por tudo, pelo nome do livro ser Holocausto… Eles diziam: ‘Eu não sou nazista’, chegaram a colocar o dedo no meu nariz. Foi bem complicado. Eu não esperava essa reação. Os ex-funcionários (do hospital) estavam muito doídos.
Isso mudou depois do filme?
Eu não sei. Pessoas que participaram do filme me mandaram ótimos retornos e um psiquiatra detonou, falando que o filme erra grosseiramente quando não mostra claramente a reforma psiquiátrica. É a opinião dele. Eu sei que Barbacena está em polvorosa e é muito interessante, porque alguns personagens do filme eram os mais resistentes ao livro. Eu acho que as pessoas estão muito mexidas, porque até os opositores públicos do livro acabam revelando o que revelaram no filme e aí as pessoas vão ficar meio confusas. Estamos sendo convidados para fazer uma pré-estreia lá e vai pegar fogo.
O filme é angustiante e muito se deve aos efeitos visuais e sonoros. Como você conseguiu essa equipe?
O mérito é da equipe mesmo. O Alessandro (Arbex), que é meu irmão, trabalha há muito tempo com o Mauro Pianta, que é o diretor de fotografia e com o montador, Fábio Cabral, e já conhecia o potencial deles. Eu era amiga, mas nunca tínhamos trabalhado juntos. Uma coisa que a gente pensou muito na hora da montagem é que não precisávamos pesar a mão em nada. O filme já é dramático por si só. Não quisemos uma trilha para chorar, queríamos o silêncio, por isso optamos por não ter narrador, para que as histórias se contassem. Eu acho que o mérito do filme é esse: ele acontece em frente às câmeras.
Qual a história do Hospital Colônia?
É um hospital que foi criado em 1903 pelo Governo de Minas para atender pessoas que sofriam de doenças nervosas e mentais, que tinha uma ótima intenção de tratar estas pessoas, mas registros que eu encontrei no Arquivo Público Mineiro me mostraram que, desde 1914, já havia superlotação. Tem um documento, de 1911, que uma brasileira chamada Maria de Jesus, de 23 anos, foi internada lá porque ela tinha tristeza como sintoma, o que confirma a falta de critério médico para internação. Logo, foi um hospital criado para atender uma cultura da época, um tipo de doença que ainda era muito desconhecido, mas as coisas começaram a degringolar e ele se tornou um grande depósito.
Você chegou a morar em Barbacena por algum período?
Dois meses, para o filme. Para o livro, eu fui durante um ano, em todos os finais de semana. Mas para o filme, ficamos dois meses morando mesmo, sem vir em casa. Meu filho que ia, a cada três dias, levado pelo meu marido. Eles dormiam comigo, para eu não ficar dois meses sem vê-los.
Isso foi uma escolha sua, para mergulhar na história?
Era necessário, porque quando você faz um trabalho desse, tão grandioso, com tantas pessoas para serem ouvidas e tantas coisas que precisavam ser feitas, tem que estar lá. Mas é desgastante demais. No começo, foi desgastante porque fomos hostilizados, depois, porque já estávamos cansados, com saudade da família… É um tema muito denso, então os três primeiros dias foram muito marcantes, porque o pessoal só chorava no set, durante as entrevistas, filmando, mas era preciso.
Por que a década de 1970 tem uma importância tão grande no documentário?
A década de 70 marca a mudança. Quando o Luiz Alfredo entrou lá, em 61, e fotografou as pessoas naquelas condições, as mulheres ainda estavam, em sua maioria, vestidas. Já quando o Napoleão (Xavier, fotógrafo) entra, em 79, tá todo mundo nu, as mulheres estão nuas, completamente violadas, em uma condição muito mais precária. As imagens do Napoleão são muito mais duras, porque as do Luiz Alfredo tem poesia ainda, mas as dele são totalmente indigestas. Beirava o insuportável já em 61, imagina em 79… Então, foi a década de mobilização dos trabalhadores da saúde mental, das grandes denúncias. Foi todo este movimento que deu origem à reforma psiquiátrica em Minas, que mais tarde alcança outros estados brasileiros.
Como foi retratar a venda de corpos para faculdades de medicina e confrontar um dos responsáveis pelos acertos?
Aquele foi um dia muito difícil, particularmente para mim, porque tinha sido um dia desgastante. Já tínhamos sofrido um embate na hora do almoço, com um convidado para gravar… O mérito do encontro com ele (Fialho, que autorizava vendas de corpos, segundo o documentário) foi da assistente de direção. Ela que descobriu que ele estava em Barbacena e marcou com ele. Aquela entrevista não estava agendada, fomos todos correndo, mas eu não estava preparada e tive que fazer um esforço de concentração para conseguir levar aquela conversa. Foi triste, porque nenhuma mentira fica encoberta por uma vida inteira. Eu lamentei pela idade daquele homem e por ele achar que aquilo nunca seria revelado. Ele ficou sem lugar ali.
Como surgiu o número de 60 mil mortos no hospital?
Esse número foi divulgado em 2008, em uma publicação chamada Colônia, que foi editada pelo Governo de Minas Gerais. O secretário (de Saúde) de Minas Gerais, nessa época, em um texto para esse livro, fala em 60 mil mortos. Eu fiquei apavorada com isso. No Museu da Loucura, quando você chega, o primeiro painel, na porta, mostrava ’60 mil pessoas morreram aqui’. Então, era um número aceito. O hospital, a sociedade de Barbacena, os médicos, todos conviveram pacificamente com esse número por todos esses anos.
E quando começou a incomodar?
Quando o livro sai e tem o impacto que tem, esse número passa a incomodar um absurdo, e eu digo, sinceramente, que esse é um número oficial, que o Governo de Minas deu e nunca contestou. É interessante, porque o próprio hospital faz um movimento para recontar. Fizeram da década de 1940 para cá, dos documentos que conseguiram, e identificaram 23 mil mortos. Identificados. Mas imagina os que foram vendidos, os que morreram e não tem nome, enfim… só mostra que o número é por volta disso mesmo. E outra coisa: será que o impacto é menor porque eram 23 mil e não 60 mil? Para mim, é tão chocante quanto, já é um absurdo, é estarrecedor.
Na sua opinião, qual o papel do Estado no tratamento dessas pessoas e qual a culpa pelas mortes delas?
O estado agiu com a conivência dos médicos da época, da Justiça da época. Houve uma omissão coletiva, porque o estado não foi pego de surpresa. Em 1961, a Revista Cruzeiro, maior revista do Brasil na época, fez uma matéria com cinco páginas. Então, eles sabiam da degradação. Sabiam e fomentaram, quando o estado, em 1959, emite para outros hospitais psiquiátricos um comunicado sugerindo que eles adotem o modelo do Colônia, que é o leito e chão, que é a substituição de cama por capim, porque era um modelo muito bem-sucedido lá. A responsabilidade do Estado é inegável.
Para quem foi feito este filme?
Para todos nós, porque ele fala da loucura, mas fala também do preconceito, fala de uma sociedade que permitiu que isso acontecesse porque tem uma cultura higienista, porque compactua com uma ideia de limpeza social, de colocar o que incomoda para debaixo do tapete. Este filme é muito atual e fala para nós, para a gente acordar, porque a indiferença também gera barbárie. Até hoje temos situações de degradação humana, é só ver como estão as prisões, é só ver como a juventude brasileira é dizimada e não incomoda, porque é a juventude negra e pobre.
Acompanhe Pragmatismo Político no Instagram, Twitter e no Facebook


