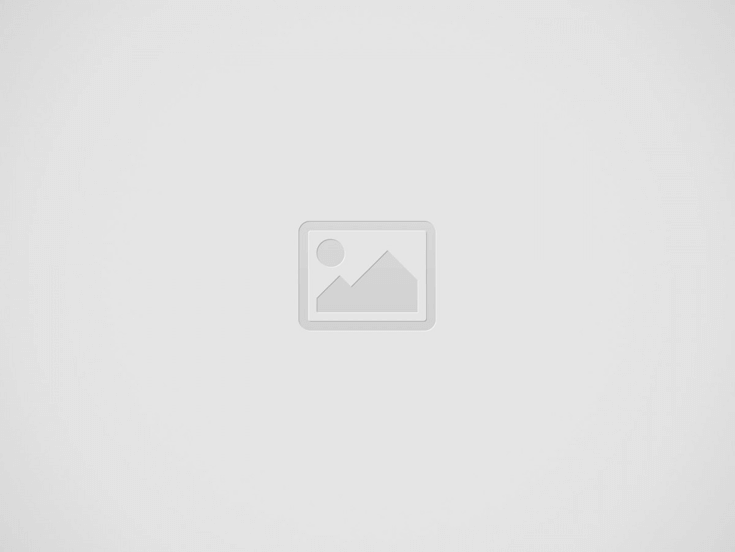

111 cruzes para lembrar o número de presos mortos na Casa de Detenção do Carandiru, em 1992 (Imagem: Marcelo Camargo | ABr)
“Deveria ter sido impedida a implosão do Carandiru. Mantidas as celas originais, os instrumentos de tortura, as armas rudimentares dos detentos, as marcas de bala nas paredes dos tiros disparados pela polícia como símbolo da nossa barbárie”. (Luis Mir)
Luis Gustavo Reis* e Wesley Martins Santos*, Pragmatismo Político
Há quase três décadas, numa primavera que ainda guardava resquícios do inverno e teimava em amanhecer fria, a Polícia Militar de São Paulo invadiu a penitenciária do Carandiru para debelar uma briga entre presos que se arrastava por horas.
Era 2 de outubro de 1992, centenas de pessoas acompanhavam o caso com os olhos fixados na televisão, enquanto outras, sobretudo os familiares dos cidadãos presos, se aglomeravam nos arredores da Casa de Detenção envoltos em um clima de tensão e angústia. Com escudos em riste, armas pesadas rentes à farda e segurando pela coleira cães raivosos que latiam e rosnavam incessantemente, o batalhão especial da polícia rompeu as grades e entrou na penitenciária. A ordem de invasão foi dada pelo então coronel Ubiratan Guimarães, que ratificou a eminente carnificina prenunciada pelos 330 policiais que marcharam para o complexo adentro.
O restante da história é conhecido: a ação executou sumariamente (pelo menos) 111 cidadãos que estavam sob a custódia do Estado. Desse total, 89 eram presos provisórios que não haviam sequer sido julgados e condenados. Em meia hora, o batalhão escreveu o episódio mais brutal da violenta crônica policial brasileira.
Alguns detentos relataram que ao invadir o pavilhão, os policiais gritavam em coro “A morte chegou!”, antes de dispararem contra as celas, indiscriminadamente.
As fotos vazadas pela imprensa mostraram centenas de corpos empilhados, nus e perfurados no chão de concreto, mergulhados no lamaçal de sangue que escorria pelos corredores. As imagens correram o mundo como um símbolo máximo da barbárie brasileira.
Em entrevista, à época, Milton Marques Viana, uma das pessoas presas no pavilhão nove, disse à alguns repórteres acampados na porta do presídio: “Eu presenciei os fatos. Totalmente nus, com as mãos na cabeça, foram todos mortos. Execução sumária! Jogavam os corpos do andar de cima no foço do elevador. Eu vi o holocausto! Eu vi o holocausto!”, repetia apavorado.
O Massacre do Carandiru entrou no catálogo de atrocidades que mancharam definitivamente a história do país. Além disso, o episódio tornou-se sinônimo de impunidade e inoperância da justiça brasileira. Passados 27 anos, nenhum policial foi preso e nenhuma autoridade política da época, como o governador Luiz Antônio Fleury Filho, foi sequer processada.
Em 2017, após idas e vindas de um processo que se arrastava por anos e que acabou por condenar os policiais envolvidos, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os julgamentos de forma arbitrária, absolvendo os 74 PMs – que recorriam em liberdade – de penas que chegavam a 624 anos de prisão.
O desembargador Ivan Sartori, relator do processo e entusiasta da absolvição dos PMs, ao justificar o voto, ultrapassou os limites da decência: “Não houve massacre, houve legítima defesa”, bradou o magistrado. O que estarrece é o fato de o desembargador não considerar o desarmamento das vítimas, os policiais saírem do complexo sem nenhum arranhão, e o laudo pericial apontar uma média de cinco tiros por corpo, a maioria disparados na cabeça.
Mas o capítulo macabro ainda anunciava novas surpresas. Dos 74 policiais militares processados, 58 foram promovidos entre a data do massacre e o ano de 2017, mesmo ano em que receberam o beneplácito da justiça para seguirem livres. Dois deles, inclusive, foram nomeados comandantes da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota) pelo então governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, numa clara afronta aos valores humanos. Os demais 56 agraciados seguiram ocupando diferentes postos, recebendo patentes superiores e galgando outros níveis dentro da corporação. Hoje, a maioria deles desfruta de aposentadoria, custeada pelo mesmo Estado que se nega a indenizar as famílias das vítimas pela violação do direito à vida e à integridade física de cidadãos que estavam sob sua responsabilidade.
Leia aqui todos os textos de Luis Gustavo Reis
Outro fato assombroso está relacionado às duas figuras centrais do Massacre: o coronel Ubiratan Guimarães e o governador Luiz Antônio Fleury Filho. O primeiro, que comandou o morticínio, tempos antes de ser assassinado, foi eleito deputado estadual. Num claro deboche ao saldo de mortos no Carandiru, seu número de chapa terminava em 111. Já Fleury, atravessou as décadas gravitando em torno do poder. Figura carimbada em palanques políticos de diferentes partidos – à esquerda e à direita – atualmente é integrante de destaque da executiva estadual do MDB. Recentemente, Fleury Filho integrou uma comitiva para tratar de assuntos não divulgados com o presidente Jair Bolsonaro.
Chegamos hoje aos 27 anos do Massacre do Carandiru no pior cenário possível. Enquanto o presidente da República e determinados governadores defendem explicitamente a brutalidade da polícia e a imunidade contra crimes praticados por agentes de segurança, o Ministro da Justiça lançou um pacote anticrime que prevê alteração no artigo 23 do Código Penal, que trata do chamado “excludente de ilicitude”.
Segundo a proposta de Sérgio Moro, agentes que cometerem excessos decorrentes de “escusável medo, surpresa ou violenta emoção” terão suas penas abrandadas. A medida é preocupante, pois amplia a definição de legítima defesa e pode levar à isenção de culpa e de pena os policiais que matarem em situações de “conflito armado”.
Mas o pacote de Moro tem seus precedentes. Num paralelismo perturbador, os advogados de defesa dos policiais envolvidos no Massacre do Carandiru afirmavam que, em um ambiente escuro, escorregadio, fumacento e inóspito, os policiais apenas revidaram à agressão dos detentos amotinados. Ou seja, a polícia agiu em legítima defesa.
Leia aqui todos os textos de Wesley Martis Santos
O episódio de 2 de outubro de 1992 abriu precedentes. Os casos de violência policial que se seguiram após o massacre reproduziram em menor escala a mesma dinâmica: a eliminação física de pessoas por agentes do Estado acobertados por alegações de legítima defesa, manipulação da cena do crime, armas plantadas nas mãos das vítimas. Além disso, embora o Estado brasileiro tenha sido condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), os planos de expansão do sistema penitenciário estão longe de reduzir o quadro de superpopulação prisional no estado de São Paulo e são reiteradas as denúncias de violência e arbitrariedade praticadas pela Polícia Militar paulista.
Ao contrário do que bradam os arautos da violência policial, massacres de presos não protegem o “cidadão de bem“. O resultado do Carandiru, vejam vocês, foi a fundação do PCC, que organizou o crime e passou a controlá-lo dentro e fora das cadeias.
*Luis Gustavo Reis é professor e editor de livros didáticos; *Wesley Martis Santos é mestre em História, professor da rede pública e do Cursinho Henfil
Siga-nos no Instagram | Twitter | Facebook

