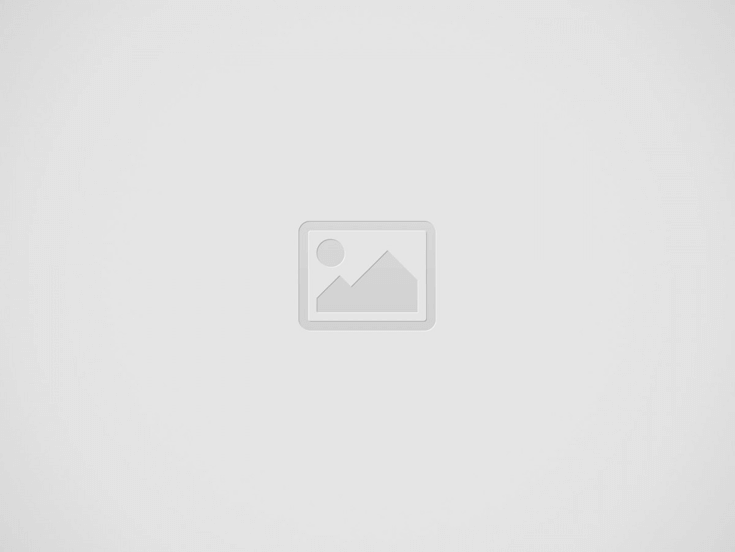

Cena do filme O Nascimento de uma Nação
No cinema e nos programas policialescos o linchamento do negro impede a humanização
Ale Santos*, Ponte
Em 1915, o diretor D. W. Griffith apresentou para seu país um dos filmes mais impactantes na sociedade norte-americana: “O nascimento de uma nação”. A história dessa obra tem uma relação íntima com a história do racismo e de como os Estados Unidos tratam os afrodescendentes.
O filme se tornou um grande estouro comercial, considerado o primeiro grande sucesso da indústria de cinema americano. Chegou a ser exibido na Casa Branca, mas teve um marco importante na Noite de Ação de Graças, precisamente na data de 28 de novembro de 1915, quando vários homens liderados por William Joseph Simmons subiram a Stone Mountain, na Geórgia, para atear fogo em uma grande cruz.
A Cruz em chamas não era um símbolo original desse grupo supremacista, mas se tornou após a popularização do filme, pois o ato do grupo de Simmons foi o início da segunda era (e uma das mais violentas) da Ku Klux Klan. O grupo supremacista foi apresentado como uma mobilização heroica, lutando para resgatar os ideais nacionais defendidos pelos Confederados em busca da união dos sulistas com os nortistas de bom coração e seus fiéis servos negros.
O filme de quase 3 horas apresenta a família Camerons, donos de escravos e cheios de heróis condecorados e seus amigos do norte, a família do deputado abolicionista Austin Stoneman — retratado como uma figura fraca e longe do que seria o ideal masculino da época. Ele anda com um pé torto, é viúvo e apresentado como alguém enganado pelos negros para defender a integração. Os negros nesse filme são retratados por homens brancos com pintura blackface, até as mulheres são interpretadas pelos mesmos.
O principal personagem negro é Gus, soldado da União que é perseguido e linchado pela Klan em uma das cenas mais brutais do cinema. A construção da negritude nessa obra codifica a monstruosidade sobre o homem negro e ajudou a inserir na sociedade a imagem do negro como um predador sexual de mulheres brancas. Para tirar vantagem de uma nova lei que permitia casamentos inter-raciais, Gus começa a perseguir uma jovem, chamada de irmãzinha dos Camerons. Ele a vigia na floresta, segura seus braços e diz “agora quero me casar”, para escapar do suplício a garota se joga de um precipício. É quando surgem os “heróis” da Klan que lincham o rapaz.
Essas imagens não têm o mesmo impacto hoje, mas naquela época o efeito foi capaz de reacender os ideais de supremacia branca e sufocar qualquer imagem humanizadora de afro-americanos. Nomes notórios como de W.E.B Du Bois já eram conhecidos entre todos os intelectuais do mundo. Até o brasileiro João Baptista de Lacerda descreveu seu encontro com o pai da intelectualidade negra em 1911, no Congresso Universal das Raças em Londres: “A raça de cor dos Estados Unidos tinha no congresso um representante de grande valor”.
Infelizmente o “grande valor” dos negros ou a construção de uma imagem mais digna não chegou para todos com a mesma força e poder de massificação que os estereótipos racistas, o cinema continuou dobrando a aposta no racismo. O próprio Griffith respondeu às críticas dos movimentos negros americanos lançando um filme chamado “Intolerância”, uma ironia sobre como aquelas pessoas estavam sendo intolerantes com as críticas a um filme que exaltou a Ku Klux Klan.
A figura do intelectual negro, do advogado negro, da médica negra ou da empresária trabalhadora é sufocada pelo negro analfabeto, o bandido, a prostituta e a mulher preta, pobre e viciada. Por mais que a sociedade negra tenha construído sua própria narrativa, as estruturas do país funcionam de forma desigual. Em 1921, por exemplo, havia uma média de 120 cinemas que aceitavam filmes negros, contra 22 mil cinemas que passavam filmes brancos nos EUA.
Essa realidade se torna mais desleal aqui no Brasil, um país que não se aceita racista, mas só tem negros dirigindo a narrativa em 2,1% dos filmes brasileiros. Todo o poder de preencher o imaginário social está nas mãos de não negros, pessoas que não vivem a realidade de quem pode ser morto ou confundido com um bandido por segurar um guarda-chuva, mas reforçam a imagem do negro como uma pessoa perigosa o suficiente para ser confundida com um bandido por segurar um guarda-chuva.
Ainda que estivessem em produção acelerada, iniciativas emergentes no país, que tentam romper com os estereótipos raciais no entretenimento se deparam com um fenômeno catalisador do imaginário racista: os programas policiais na TV Aberta.
Apresentadores como Datena, Luiz Bacci e Sikera Junior dão combustível para a perseguição e mesmo a morte de jovens pretos e periféricos ao tecer julgamentos que sobrepõe direitos básicos do indivíduo. Nenhum deles têm comprometimento real com a legislação brasileira, apenas com os números de sua própria audiência e lançam mão de todo tipo de sensacionalismo para tal.
Em 2016, a Record foi notificada pelo Ministério Público pela transmissão de uma perseguição em que Marcelo Rezende usou repetidas vezes o termos “bandidos” e “ladrão” contra os suspeitos, sem que o caso tivesse um verdadeiro desfecho.
O que aconteceria se o programa usasse as mesmas expressões para se referir a grupos de pessoas mais identificadas como brancas: vereadores corruptos, empresários criminosos, deputados que desviaram dinheiro ou banqueiros que dão apoio ao tráfico de drogas?
A polícia tem a sua parte no show. A gente viu a diferença de tratamento que ela tem com moradores de Alphaville enquanto se inspira na morte de George Floyd para pisotear o pescoço de uma mulher negra em Parelheiros, na capital São Paulo.
Por isso a questão passa longe de quem é, de fato, um criminoso e fica no “quem parece” criminoso. Isso é contar com o julgamento social de um país, onde jornalistas chamam negros de traficante e brancos de “estudantes fazendo delivery de drogas”.
Para a pesquisadora Luciana Pinho Morales da Universidade Federal do Ceará, um programa policial “busca legitimação para atuar, não apenas como agências formais de controle, mas como um mecanismo alternativo de controle social e de justiça, reafirmando valores morais, oferecendo receitas de coesão social e propondo soluções para conter o avanço da violência urbana e da insegurança pública.”
Assim como o cineasta americano do século passado, eles dirigem narrativas recheadas de estereótipos, frases de impacto e acusações morais que construíram e alimentam uma ideologia da extrema-direita. Em muitos casos causando uma verdadeira tragédia.
Algumas semanas atrás o programa da Record divulgou a imagem borrada de um homem que seria suspeito de assassinato e disse: “Ainda não temos autorização para mostrar sem esse borrão. Mas quem conhece esse homem já passa informações para a polícia. Quem é amigo desse homem sabe quem é”. Horas depois o homem foi assassinado com tiros. Não existia nenhuma acusação policial contra ele.
Esses apresentadores não são ingênuos, eles sabem que são representantes da cultura dos justiceiros, do cidadão de bem que só precisa de uma boa história motivando sua ação. Uma cultura que foi criticada pelo jornalista Ricardo Boechat em 2014, ao comentar sobre uma mulher linchada por moradores do Guarujá, litoral sul paulista: “Esse crime aí, minha gente, tem tanta responsabilidade, o autor do boato espalhado pela internet, no ‘Guarujá Alerta’, quanto pessoas que, mesmo em emissoras de televisão, estimulam a cultura da justiça com as próprias mãos. Isso está dentro do mesmo panorama, que propicia, estimula, que justifica o linchamento. É hora dessas pessoas, agora, virem a público e dizerem como se sentem depois da consumação de sua própria teoria, na prática”.
O racismo não estaria tão difundido na sociedade sem apoio de todos os veículos de comunicação e entretenimento para levá-lo até as massas. Esses programas policialescos não são a causa de todos os problemas, mas definitivamente são uma parte importante dele, validando a violência policial que é totalmente enviesada para a população preta.
Ricardo Alexino Ferreira escreveu na obra “Espelho infiel: o negro no jornalismo brasileiro”, que “coberturas jornalísticas sobre o segmento negro podem reforçar atos de racismo, discriminação e estereótipos, mesmo quando a linha editorial do jornal ou do grupo de comunicação não está.”
Mesmo sem intenção, as reportagens podem estar reforçando imagens antigas e dando voz a movimentos sociais que crescem com o ódio. É uma nova forma de codificar a monstruosidade na negritude, talvez menos direta que o filme de D. W. Griffith, mas tão eficaz quanto.
Nos acostumamos a ver gente negra morrer no Brasil. Entre janeiro e julho de 2019, só a polícia do Rio matou 1.075 pessoas, 80% delas negras. Só mais um negro perseguido, baleado, suspeito ou morto é o que assistimos todos os dias e assim vamos nos dessensibilizando. Vidas negras perdem o valor na televisão, porque é a forma que a sociedade se constituiu.
A maior parte dos espectadores não tem ideia que em nosso país, um dos pais da criminologia brasileira, Raimundo Nina Rodrigues sugeriu um código penal distinto para cada uma das raças, tendo como base sua crença de que algumas perversões e a imoralidade estava ligada ao sangue do negro.
Mesmo assim, muita gente é levada a acreditar na mentira que negros têm tendência ao crime por acompanhar diariamente essas narrativas policialescas, elas continuam atingindo milhões de brasileiros todos os dias, convencendo eles que o perigo e a bandidagem está na vizinhança, fortalecendo um padrão de criminoso que foi criado há séculos atrás.
O showbiz da violência no Brasil em 2020 está suprimindo a figura do intelectual negro, do advogado negro, da médica negra ou da empresária batalhadora.
*Ale Santos é escritor de Rastros de Resistência, histórias de luta e liberdade do povo negro
Siga-nos no Instagram | Twitter | Facebook

