O que está em jogo quando falamos de aborto?

Agatha Espírito Santo e Bárbara Espírito Santo
O ano era 1869. O papa Pio 9º, o primeiro da história a ser fotografado, encontrava-se sob proteção dos exércitos franceses de Napoleão III. O movimento pela unificação italiana, tão complexo de se compreender e que foi objeto de inúmeros livros desde então, estava prestes a reunir as variadas repúblicas e territórios existentes no que hoje se chama de Itália.
Contudo, havia uma problemática: os Estados Papais, sob domínio de Pio 9º, conservador e contrário à unificação. É importante explicar: o que hoje conhecemos como Vaticano, um pequeno território de 44 hectares no interior da cidade de Roma, esteve um dia dentro dos Estados Papais, com mais de 40 mil quilômetros de extensão, ocupando todo o interior da Itália. A Igreja Católica Apostólica Romana era governante, tanto da fé, quanto da administração desse espaço.

Assim, Pio 9º queria garantir, tanto os territórios, quanto a entidade política autônoma da Igreja. Ao mesmo tempo, Napoleão III temia o avançar das tropas republicanas ao norte, o que representaria uma invasão de terras francesas. Parênteses: não confundir Napoleão III com aquele outro Napoleão, que estudamos na escola.
O Napoleão que citamos aqui era sobrinho daquele mais famoso. Foi também o primeiro presidente eleito pelo voto direto na França, mas quando não pôde concorrer ao segundo governo, organizou um Golpe de Estado, assumindo o trono de Imperador em 1852. Napoleão III tinha seus planos frustrados pela baixa natalidade na França: no contexto de 1869 os famosos Boulevards parisienses já haviam soterrado a Paris medieval. A urbanização e industrialização destruíram a antiga cidade da Comuna de Paris, na qual vielas e becos prejudicavam o avançar de cavalarias e canhões sobre os revoltosos, reconstruindo Paris em forma de Cidade Luz.
Foi nesse contexto de disputa de territórios e poder político, somado à industrialização da França, que Pio 9º e Napoleão III se uniram militarmente. As tropas francesas defendiam os Estados Papais, logo Pio 9º dependia do Imperador da França para manter sua integridade.

Assim, em 1869 o papa Pio 9º declarou que a alma humana era incorporada na concepção, condenando a interrupção da gravidez sob pena de excomunhão. É relevante pontuar que em 1588 o papa Sixto 5º já havia condenado o aborto de maneira muito similar, contudo, seu sucessor, Gregório 9º voltou atrás e declarou que o embrião não formado não poderia ser considerado humano, logo, abortar seria diferente de cometer homicídio.
↗ 6 documentários sobre aborto com a perspectiva das mulheres
Até Sixto 5º, teorias que tratavam sobre a problemática da alma humana já eram debatidas, sendo a tese oficial da Igreja aquela antes defendida por Aristóteles: o feto tinha vida a partir dos primeiros movimentos dentro do útero, o que para meninos ocorreria no 40º dia de gestação, enquanto para meninas, apenas no 90º dia — não se pode esquecer que Aristóteles defendia a inferioridade intelectual e física das mulheres. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho concordavam com Aristóteles e foi seu endosso que propiciou que a teoria fosse alçada à tese oficial da Igreja.
Sempre que a questão do aborto é trazida ao debate, argumentos da ordem religiosa aparecem. Normalmente, a noção de que a vida se inicia na concepção é a mais citada por aqueles que são contrários ao ato de interromper a gravidez, equiparando-se, assim, o aborto ao homicídio. Por meio dessa explicação inicial, buscamos historicizar a visão da Igreja sobre o aborto: o que muitas vezes nos é apresentado enquanto intrínseco à fé cristã nasceu há menos de duzentos anos, em uma articulação entre um Papa ameaçado pela unificação e um imperador que buscava maiores taxas de natalidade.
A Questão Romana, como se chama o imbróglio sobre os Estados papais, só seria resolvida em 1929, após acordo entre Benito Mussolini e o Papa Pio 11, o Tratado da Santa Sé, na qual os Estados Pontifícios foram reconhecidos, com total soberania administrativa da Igreja Católica Apostólica Romana. As relações entre fascismo e Igreja são estabelecidas desde então por sociólogos, filósofos e outros estudiosos.
Argentina e a descriminalização do aborto
Às 4h35 da madrugada de 30 de dezembro, Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, anunciou a aprovação da lei que permite a interrupção da gravidez até a 14ª semana de gestação. A sessão do Senado durou 12 horas e cada membro da casa teve a oportunidade de manifestar publicamente o voto, acompanhado de uma justificativa da decisão. Com 38 votos a favor, 29 contra, uma abstenção e quatro ausências, o aborto não é mais criminalizado no país, garantindo a extensão dos direitos das mulheres sobre seus próprios corpos. A decisão, considerada histórica na América Latina, põe fim à lei de 1921, que garantia acesso ao aborto apenas em casos de estupro, de feto anencéfalo ou quando a gestação coloca em risco a vida da mulher, semelhante à legislação brasileira.
O movimento a favor do aborto na Argentina não é recente, e desde 2003 a cor verde faz parte das vestimentas do grupo. Há 35 anos as mulheres se reúnem no país para debater e refletir sobre seus direitos, problemas estruturais e políticas públicas efetivas que garantam a inclusão de gênero, de orientação sexual e identidade de gênero no tecido social. O Encontro Plurinacional de Mulheres, Lésbicas, Trans, Travestis, Bissexuais e Não-Bináries é realizado desde 1986 e marca uma importante política de autogestão das mulheres, que anualmente tem somado mais pessoas aos dias de discussões políticas, econômicas e sociais. No 18º Encontro, as Católicas Pelo Direito de Decidir utilizaram lenços verdes para que pudessem ser distinguidas dos demais grupos como favoráveis ao aborto, fazendo alusão às Mães e Avós da Praça de Maio, movimento de mulheres argentinas que perderam seus filhos e netos durante à ditadura militar no país e que usavam lenços na cor branca. Em 2019 o encontro contou com mais de 200 mil integrantes, popularizando assuntos como direitos sexuais, aborto e o alcance da agenda feminista, corporificada pelo movimento #NiUnaMenos.
Mesmo com uma forte organização ampliando a disseminação da pauta do aborto e os direitos reprodutivos das mulheres e pessoas com útero, o debate só se intensificou em 2018, quando a Lei de Interrupção da Gravidez foi aprovada na Câmara de Deputados, mas não encontrou apoio no Senado, sendo recusada com a promessa de melhorar e ampliar a educação sexual nas escolas e o apoio às gestantes com baixa renda. Muito pouco foi feito desde então, e a quantidade de casos de gravidez de crianças e adolescentes seguiu inflamando o movimento de mulheres e a chamada geração verde-violeta do país. Diferente do Brasil, a Argentina possui um Parlamento bicameral, ou seja, a Câmara de Deputados (também chamada de Câmara Baixa) representa a população, enquanto o Senado (ou Câmara Alta) representa as províncias.
Assim, entre 2018 e 2020 a chama da luta nunca se apagou: os movimentos sociais liderados por meninas e mulheres de todo o país se fizeram ouvir e a temática do aborto permaneceu nos debates públicos. Durante as eleições de 2019, entre o ex-presidente Mauricio Macri e o atual presidente Alberto Fernández, o tópico se fazia presente em debates televisionados, figurando enquanto promessa de campanha do candidato da Frente de Todos. Fernández foi eleito com propostas progressistas, opositor do neoliberal Macri.
A chapa Fernández-Fernández, como ficou conhecida a união entre Alberto e Cristina Fernández Kirchner, ex-presidente da Argentina, atual vice, mostrou-se sempre aberta aos movimentos sociais. O movimento de mulheres em prol do aborto existe há mais de trinta anos no país, iniciado durante a segunda metade da década de 1980. É sempre relevante pontuar sangrenta ditadura ocorrida no país entre os anos de 1976 e 1982: durante esse período os mais diferentes movimentos populares foram sumariamente sufocados e reprimidos, com muitos militantes assassinados — e seus filhos sequestrados pelo governo. Na segunda metade da década de 1980 esses movimentos retornaram, tal qual o de mulheres.
O projeto de lei, aprovado pelo Senado argentino, de Interrupção Voluntária da Gestação — abreviado para IVE, em espanhol — prevê que toda mulher ou outras identidades de gênero com capacidade de gestar tem o direito de decidir voluntariamente e interromper a gravidez até a 14ª semana. Garante o direito de realizar o aborto nos serviços do sistema público de saúde do país, em um prazo máximo de cinco dias corridos desde a solicitação, com a supervisão e o acompanhamento de um profissional de saúde, respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), de forma segura e que respeite a privacidade da pessoa durante todo o processo. A lei garante a todas mulheres e outras identidades de gênero, sem distinção de nacionalidade, origem, condição de trânsito e/ou status de residência/cidadania, todos os direitos reconhecidos na Constituição Nacional da Argentina e no Tratado de Direitos Humanos, em especial, os direitos sexuais e reprodutivos, a dignidade, a vida, a autonomia, a saúde, a educação, a integridade, a diversidade corporal, a identidade de gênero, a diversidade étnico-cultural, a intimidade, a verdadeira igualdade de oportunidades, a não discriminação e uma vida livre de violências.
Na primeira consulta, o profissional de saúde deve apresentar os distintos métodos de interrupção gestacional, as consequências da prática e os riscos existentes em se postergar o processo. Com uma comunicação objetiva, precisa, confiável, acessível, científica, atualizada e laica, a pessoa deve ter plena compreensão do que acontecerá. O sistema de saúde também tem obrigação em garantir um intérprete do idioma da requerente. E, em nenhum caso, os profissionais de saúde e/ou terceiros podem fazer considerações pessoais, religiosas ou avaliativas. A lei também responsabiliza o governo federal e as províncias de garantir a Educação Sexual Integral, que na Argentina é lei, promovendo e fortalecendo a saúde sexual e reprodutiva da população. Assim como no Brasil, o Código Penal argentino previa detenção às pessoas que realizassem ou solicitassem o aborto, por isso, a IVE modifica o artigo 85, mantendo a prisão apenas para profissionais e pessoas que realizarem aborto sem o consentimento da gestante.
É relevante observarmos o mapa de como votaram deputados de cada província comparando-o ao mapa dos índices de gravidez na adolescência: regiões com números mais alarmantes de gravidez juvenil foram aquelas cujos deputados e deputadas votaram majoritariamente contra a possibilidade de interrupção. De início, precisamos recordar que muito pouco foi feito desde 2018, quando o senado argentino foi contrário ao aborto legal; a educação sexual não foi ampliada e melhorada nas escolas. Com essa recordação em mente, precisamos comparar esses dois mapas ao que se refere a pobreza crônica na Argentina: províncias com maior incidência de pobreza também possuem altos índices de gravidez na adolescência. Qual o motivo de tantos deputados dessas mesmas regiões serem majoritariamente contrários à nova lei?

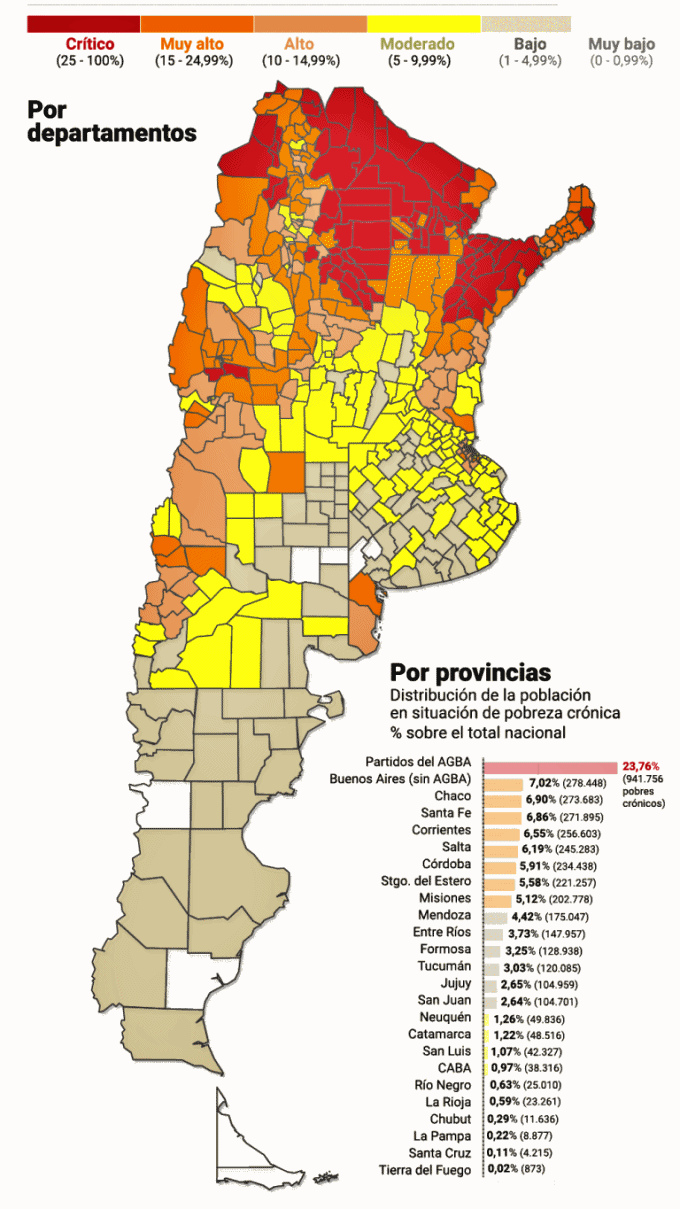
O vínculo entre gravidez na adolescência e pobreza é complexo de se analisar, mas existe: a gravidez juvenil é uma questão multifatorial, não possuindo apenas uma motivação, contudo, vulnerabilidade social e educação sexual precária constam entre os elementos que podem contribuir para essa circunstância. Segundo estudo da ONU de novembro de 2020, intitulado Consequências socioeconômicas da gravidez na adolescência em seis países da América Latina e do Caribe, a gravidez juvenil é responsável por gerar ciclos de pobreza que afetam de trajetórias de vida a economias nacionais. Jovens mães tendem a abandonar a escola, enfrentam problemas no mercado de trabalho, contribuem menos para a previdência, estão mais vulneráveis a violência por parte do parceiro, e recebem até 24% menos do que mulheres que adiaram a gravidez, além de terem três vezes menos chances de conquistar um diploma universitário. Assim, pobreza e gravidez na adolescência possuem até certo ponto uma relação cíclica, se retroalimentando.
Mas tudo isso não responde a pergunta: por que congressistas de regiões mais pobres e com maiores índices de gravidez juvenil votaram majoritariamente contra a nova lei de interrupção da gravidez, ao mesmo tempo em que não contribuíram de forma efetiva com políticas públicas para tal área? Não sabemos todas as respostas a essas questões, mas alguns pontos podem ajudar a pensar melhor a respeito: se os congressistas tivessem motivações religiosas, as promessas de 2018 já seriam realidade, ou ao menos um projeto em 2020, o que sabemos que não aconteceu. Além disso, na lógica capitalista própria da América Latina é interessante que se mantenham altos índices de natalidade, caso contrário, a quantidade de mão-de-obra cai. O capitalismo se beneficia diretamente com a pobreza: qual outro sistema tem em seu cerne a exploração e a violência como principais aspectos de funcionamento?

Brasil e a descriminalização do aborto
O Código Penal do Brasil, criado há 80 anos, prevê a prisão das mulheres que provocam abortos em si mesmas ou solicitam que outra pessoa o faça, com detenção que varia de um a três anos. A pessoa ou o profissional que realiza a interrupção da gestação pode ser detido por até quatro anos. Porém, a nossa Constituição Federal de 1988 não faz nenhuma menção sobre aborto, e promove os princípios da dignidade, da cidadania e da não discriminação. Além disso, são direitos fundamentais a inviolabilidade da vida, a liberdade, a igualdade, proibição de tortura ou tratamento desumano, a saúde e o planejamento familiar. Existem, claro, duas formas de se analisar a CF: acreditando que interromper uma gestação é matar um ser humano ou, então, compreendendo que a maternidade compulsória, a ausência de educação sexual nas escolas e a criminalização do aborto, juntas, se entrelaçam para formar algo muito maior: a domestificação dos corpos femininos.
↗ 12 mentiras perigosas sobre o aborto que precisam ser desmascaradas
Quando se reflete sobre os artigos 124 e 126 do Código Penal, analisando a Constituição Federal brasileira sob a ótica da liberdade e autonomia de todos os cidadãos, a prisão das mulheres que praticam a interrupção gestacional pode ser interpretada como inconstitucional. Pensar na vida e no bem-estar de todas as mulheres implica em reconhecer que o aborto é um fator considerado durante toda a extensão da vida reprodutiva das pessoas, e digo pessoas porque sabemos que, muitas vezes, companheiras extraconjugais são pressionadas pelos homens para interromper suas gestações, sob a pretensa realidade sórdida das famílias tradicionais ruírem. Atualmente, basta ter dinheiro para garantir um aborto seguro e o simples fato de permitir que mulheres pobres morram tentando diz mais sobre a hipocrisia heterocentrada do que sobre a moral e fé dessas mulheres.
De quais vidas estamos falando quando aceitamos que homens nos digam o que podemos ou não fazer com nossos corpos? Nosso Código Penal é o mesmo há quase um século e, assim como a lei anterior argentina, redigido e pensado por (e para) homens. Mantemos mulheres confinadas dentro de suas casas, gerando filhos e realizando trabalhos invisíveis sem nenhuma remuneração, garantindo a mão-de-obra da próxima geração do sistema capitalista. A Organização Não-Governamental (ONG) Think Olga, no relatório Mulheres em tempos de pandemia, aponta que a economia do cuidado, se remunerada, seria responsável por 11% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Essa economia do cuidado envolve não apenas cuidar dos filhos (na maioria das vezes em tempo integral), mas o cuidado dos familiares e os afazeres domésticos como um todo. Além disso, segundo a feminista marxista autônoma Silvia Federici, as relações sexuais também entram nessa equação. Sim, o sexo. Em uma sociedade patriarcal que fiscaliza os corpos femininos, dita regras sobre o que o pode ou não ser feito com eles e os objetifica, as relações sexuais constituem parte importante dessa manutenção de poder.
“A economia do cuidado é essencial para a humanidade. Todos nós precisamos de cuidados para existir. E, se você hoje é uma pessoa adulta, é porque alguém já desempenhou horas de trabalho de cuidado com alimentação, vacina, remédios, limpeza e higiene, educação, entre diversas outras funções por horas. E a sociedade, os empregadores que contratam pessoas (veja que óbvio), a gestão pública, as universidades, todas as demais esferas se aproveitam desse trabalho que é gratuito ou mal remunerado (quando terceirizado)”. – Think Olga, Mulheres em tempos de pandemia.
Essa é a grande jogada do capitalismo, como nos alerta Federici. Atribui-se à mulher uma feminilidade que inclui trabalhar de graça, fazendo coisas essenciais para a manutenção do próprio sistema, administrando, limpando, lavando, cozinhando e cuidando como se fizessem parte da “natureza feminina”. Por isso, esse mesmo sistema, comandado por homens, não permite que tenhamos autonomia sobre nossos corpos. Romper com essa estrutura que se infiltrou na nossa cultura, nas nossas instituições e nos nossos pensamentos requer um esforço conjunto de mulheres que não mais aceitam ser colocadas em posições de subalternidade, mas também requer que tenhamos um olhar cuidadoso e protetivo com as mulheres que não têm acessos e privilégios.
Não existem dados oficiais sobre a quantidade de abortos realizados no Brasil, já que, por ser considerado crime quando feito de forma eletiva, muitas mulheres se submetem à condições precárias de tratamento, maquiando os dados com as subnotificações. De acordo com a reportagem Os abortos diários do Brasil, publicada pela Revista Piauí em agosto de 2020, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou, em 2019, quase 200 mil internações por aborto de mulheres e crianças em idade fértil, de 10 a 49 anos. Entre as crianças de 10 a 14 anos, foram registradas 150 internações por mês em 2019, o que significa que aproximadamente 10% de todos os abortos realizados no período aconteceram com meninas extremamente jovens. É importante salientar que esses números apresentados pelo SUS tratam de abortos espontâneos, não especificados ou que estão previstos na lei. O sistema da saúde brasileiro não interrompe gestações, apenas recebe casos de mulheres e crianças que necessitam de apoio médico após constatação do quadro.
Criminalizar mulheres que decidem interromper a gestação é uma política racista e misógina, que fecha os olhos para as desigualdades sociais de sua população, permitindo que apenas quem possui renda faça os abortos. A judicialização da política encontra na fé das comunidades religiosas o apelo moral capaz de silenciar as vítimas de exclusão e de preconceito de gênero que, sem alternativas, recorrem aos abortos clandestinos. Em um país marcado pela violência de gênero e sexual, nem mesmo em casos permitidos pela legislação o aborto é garantido às mulheres. Muitas encontram dificuldades ao realizar o procedimento, sendo levadas a provocar a interrupção gestacional por conta própria, de forma desassistida e perigosa. Não podemos esquecer do caso da criança de 10 anos de São Mateus, no Espírito Santo, que recebeu autorização do juiz Antônio Moreira Fernandes para interromper a gestação fruto de estupro, mas que precisou ser transferida para Recife, em Pernambuco, para concluir o processo.
Esse caso é muito emblemático: uma criança, estuprada durante quatro anos pelo tio, engravida; nossa legislação prevê que seria “apenas” encaminhar a vítima ao hospital para realizar o procedimento de interrupção, sem necessidade de apoio do judiciário; contudo, ainda assim um juiz precisou intervir, após pedido do Ministério Público Estadual, declarando que “influências religiosas e morais” não poderiam definir o futuro da gestação; mesmo assim, profissionais de hospitais do Espírito Santo alegaram objeção de consciência, mas não indicaram opções para que a vítima desse continuidade ao processo; nesse contexto, foi necessário que a criança e sua avó viajassem até Recife, buscando atendimento no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, vinculado a Universidade de Pernambuco. Por fim, o médico Olímpio Moraes Filho e sua equipe realizaram a interrupção da gravidez, mas tiveram de enfrentar multidões de revoltosos às portas do hospital, que oravam em vigílias e chamavam a vítima de assassina. Olímpio Moraes já foi excomungado duas vezes por realizar abortos legais e no contexto do caso aqui citado teve esse vídeo viralizado.
A pesquisa Percepções sobre estupro e aborto previsto por lei, realizada pela Agência Patrícia Galvão e o Instituto Locomotiva no segundo semestre de 2020, aponta que 52% dos entrevistados conhecem ao menos uma vítima de estupro, o que equivale a mais de 85 milhões de brasileiros. Mais de 15% das mulheres entrevistadas afirmaram já terem sido vítimas de estupro, o que corresponde a cerca de 14% das brasileiras, e mais de 14 milhões de brasileiros conhecem alguma mulher que engravidou em decorrência do estupro. De acordo com o Código Penal, uma gravidez resultante de um estupro pode, sim, ser interrompida de forma segura e gratuita, sem que essa mulher seja constrangida, sem sofrer julgamentos morais ou qualquer tipo de violência, seja ela física ou psicológica. Como explicar, nesse contexto, a vigília em frente a um hospital, com pessoas clamando que uma criança de 10 anos não fizesse aborto de uma gestação fruto de estupro? Esses adultos, que deveriam estar mais preocupados com o aumento da violência sexual infantil, que deveriam proteger essa criança, não podem se dizer pró-vida. São, sim, a favor da tortura física e emocional, são a favor da total ausência de educação sexual, querem que as mulheres não tenham nenhuma autonomia sobre si mesmas.
A Pesquisa Nacional de Abortos (PNA), realizada em 2016, aponta que até os 40 anos uma a cada cinco mulheres já fez ou fará aborto, e em 48% dos casos utilizando medicação como principal instrumento para a interrupção.
E quem são essas mulheres? O estudo aponta que são mulheres comuns, de todas as idades, casadas ou não, de todas as religiões (ou sem religião), que já são mães, de todos os níveis educacionais, trabalhadoras ou não, de todas as classes sociais, de todos os grupos raciais e em todas as regiões, independente do tamanho do município. O aborto é uma questão que acompanha as mulheres em idade reprodutiva, e encontra maior incidência em grupos sociais mais vulneráveis. Os números apresentados são maiores entre amarelas, pretas, pardas e indígenas; nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste; com renda até um salário mínimo; separadas ou viúvas; e entre as que já possuem filhos. Cerca de meio milhão de abortos são realizados no Brasil por ano, e colocam as mulheres mais suscetíveis economicamente em risco, sendo uma das principais questões de saúde pública da atualidade.
“As políticas brasileiras, inclusive as de saúde, tratam o aborto sob uma perspectiva religiosa e moral e respondem à questão com a criminalização e a repressão policial. A julgar pela persistência da alta magnitude, e pelo fato do aborto ser comum em mulheres de todos os grupos sociais, a resposta fundamentada na criminalização e repressão tem se mostrado não apenas inefetiva, mas nociva. Não reduz nem cuida: por um lado, não é capaz de diminuir o número de abortos e, por outro, impede que mulheres busquem o acompanhamento e a informação de saúde necessários para que seja realizado de forma segura ou para planejar sua vida reprodutiva a fim de evitar um segundo evento desse tipo”. – Pesquisa Nacional de Abortos (PNA), 2016.
Não é apenas uma questão de medir o mundo a partir da régua da maternidade compulsória, julgando e encarcerando mulheres que não correspondem aos ideais impostos pelo nosso sistema patriarcal, pois o aborto já existe. Segundo o estudo Aborto no Brasil: o que dizem os dados oficiais?, publicado no início de 2020, o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) registrou cerca de 212 mil internações ao ano, de 2008 a 2015, de “abortos espontâneos”, “abortos por razões médicas” e “outras gravidezes que terminam em aborto”, o que equivale a mais de 45 milhões de reais por ano. De uma forma ou de outra, grande parte das brasileiras encerram o processo abortivo no SUS, onde realizam curetagem ou aspiração uterina. O acesso à saúde pública e segura é um direito de todas as mulheres, mas elas, infelizmente, só chegam aos hospitais após muito sangramento, dores intermináveis correndo grande risco de desenvolver infecções generalizadas.
Quando se criminaliza o aborto, de quais vidas estamos falando?
Ser a favor da vida não significa que a política de criminalização manterá essas mulheres vivas. Milhares de mulheres, que já possuem filhos, que, em muitos casos, chefiam ou são a principal fonte de renda de suas famílias, que quando se deparam com a armadilha econômica e social da ausência de direitos reprodutivos, desamparadas pelo estado, recorrem à interrupção de uma gestação como única via possível. Quem está protegendo essas mulheres? Com certeza não é a moral conservadora. Mais do que uma questão de saúde pública, garantir a autonomia das mulheres é uma questão de justiça.
Temos, também, que reconhecer que o movimento a favor do aborto foi construído na Argentina durante décadas, ininterruptamente. O feminismo é o movimento possível para a garantia dos direitos reprodutivos, para a equidade salarial, para o rompimento com essa política masculinista que nos retira da categoria de sujeitos: dentro dessa lógica sequer somos donas de nossos próprios úteros. Esse não é um convite para que as mulheres abortem, mas um convite para que, sem falso moralismo, enxerguemos as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres indígenas, as mulheres com deficiência e as mulheres LGBTQI+ como as mais vulneráveis aos abortos clandestinos para, a partir daí, criarmos possibilidades de um diálogo efetivo.
↗ Por que não falamos sobre o ‘aborto masculino’?
Precisamos ouvir as mulheres, e apenas elas. Isso inclui pensar em quem elegemos como nossos representantes políticos, porque o corpo feminino, o corpo marginalizado, o corpo preto, o corpo com deficiência e o corpo desviante sempre serão enrijecidos pela política. Convido você, mulher, a pensar no coletivo e na luta, reconhecendo seus espaços de privilégios e usando-os para melhorar (ou garantir) a vida de quem não teve as mesmas chances.
*Agatha Espírito Santo é jornalista formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e co-fundadora da Revista 180
→ SE VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI… considere ajudar o Pragmatismo a continuar com o trabalho que realiza há 13 anos, alcançando milhões de pessoas. O nosso jornalismo sempre incomodou muita gente, mas as tentativas de silenciamento se tornaram maiores a partir da chegada de Jair Bolsonaro ao poder. Por isso, nunca fez tanto sentido pedir o seu apoio. Qualquer contribuição é importante e ajuda a manter a equipe, a estrutura e a liberdade de expressão. Clique aqui e apoie!





